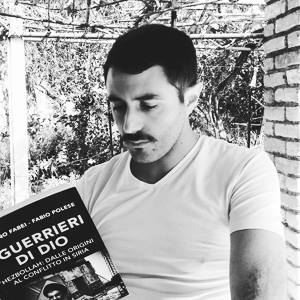O atentado de Moscou abre uma janela para compreender as relações complexas entre as inteligências ocidentais, o fenômeno do jihadismo wahhabi e o neonazismo ucraniano.

Introdução
Até o momento em que este artigo foi escrito, o Ocidente apresentou duas teses diferentes sobre o ataque de 22 de março em Krasnogorsk, na região de Moscou. A primeira se enquadra na categoria de “conspiração politicamente correta”: aquela que identifica Vladimir Putin como o eterno “mal absoluto” e que o considera o autor das ações mais desprezíveis, atos terroristas contra seu próprio povo (inclusive contra os interesses nacionais naturais da Rússia). Veja as tentativas (bastante ridículas, para ser justo) de atribuir a sabotagem do gasoduto Nord Stream à Rússia. Em outras palavras, é a tese que interpreta o ataque de Moscou como uma “false flag” (o termo anglo-saxão já deve dar uma boa ideia de quem é mestre nessa prática): ou seja, um “auto-ataque” cujo objetivo teria sido intensificar o nível do conflito na Ucrânia e, por meio de um Estado intermediário, com todo o Ocidente. Essa tese está diretamente relacionada àquela que teria envolvido Putin (então chefe do FSB e depois primeiro-ministro) na “estratégia de tensão” que levou à segunda intervenção russa na Chechênia em 1999. Sem dúvida, ainda há muitas sombras em torno da série de ataques que abalaram a Rússia no verão daquele ano e da tentativa dos grupos armados chechenos liderados por Shamil Basaev e pelo saudita-jordaniano Ibn al-Khattab de estender o conflito ao Daguestão. Os serviços ocidentais (principalmente franceses e britânicos) culparam diretamente o Kremlin pela maioria desses eventos. No entanto, deve-se enfatizar que o principal interlocutor dos islamistas chechenos (e também aquele que sempre apoiou a ideia de negociar com eles, chegando até mesmo a apoiar a campanha de sequestros ao incentivar o pagamento de resgates) foi o oligarca Boris Berezovsky: uma figura ligada aos centros de poder ocidentais, muito próxima de Boris Iéltsin e parte integrante da oligarquia predatória que deixou a Rússia de joelhos na década de 1990. Além disso, depois de apoiar sua candidatura à presidência, Berezovsky foi o mais ferrenho oponente de Vladimir Putin desde o momento em que percebeu que o novo rumo não estaria de acordo com sua agenda de rebaixamento do interesse nacional russo.
Voltando ao presente, ainda é preciso entender por que Vladimir Putin deveria primeiro poluir sua campanha eleitoral com o assassinato de seu oponente pró-ocidental Aleksey Navalny (outra personalidade a ser incluída na longa lista dos “seduzidos e abandonados” pelo Ocidente, entre aqueles “mais úteis mortos do que vivos”, considerando também seus poucos seguidores na Rússia) e, posteriormente, arruinar sua clara vitória com um “ataque pilotado” que, sem dúvida, prejudica o princípio da segurança interna sobre o qual ele construiu grande parte de seu consenso.
A segunda tese é a da responsabilidade direta do ISIS (sem qualquer envolvimento ucraniano e/ou ocidental, o que foi imediatamente negado e desmentido) com muitos avisos de Washington. Uma “solução” que certamente é atraente para repropor, em antecipação a uma eventual vitória republicana nas próximas eleições presidenciais dos EUA, o esquema do “choque de civilizações”, talvez com um progressivo (e lento) afastamento dos EUA da Ucrânia e uma consequente descarga desse “fardo” sobre a Europa (uma estratégia já implementada nos Bálcãs). Esta análise tentará demonstrar a inconsistência substancial de ambas as teses.
O ISIS e a Rússia
A relação especial entre o autodenominado “Estado Islâmico” e a Rússia merece a abertura de um breve parêntese. Após a morte de Aslan Maskhadov em 2005 (ex-presidente da Chechênia durante a breve experiência semi-independente entre os dois conflitos na década de 1990), o papel principal da militância armada na Chechênia foi assumido por Abdul-Halim Sadulayev, que decretou a formação de uma frente unida caucásica anti-russa entre todos os muçulmanos do norte do Cáucaso. O objetivo – ecoando a doutrina seguida pelo ramo “wahhabita-jihadista” do separatismo checheno (cujo maior expoente era o infame Shamil Basaev) – era tentar ampliar o conflito. Sadulayev, no entanto, morreu pouco tempo depois e seu lugar foi ocupado por Doku Umarov, que também estava convencido da necessidade de ampliar o teatro de guerra para toda a região. De fato, foi Umarov quem pôs fim à experiência da República Chechena de Ichkeria e inaugurou a experiência (decididamente mais ambiciosa) do “Emirado do Cáucaso” (Imarat Kavkaz). Um Emirado do qual o próprio Umarov se autoproclamou o chefe político-militar.
Para dizer a verdade, o projeto de Umarov enfrentou a oposição do Ministro das Relações Exteriores de Maskhadov, Akhmad Zakayev, exilado em Londres (onde ainda permanece e de onde continua a apoiar planos para fragmentar a Federação Russa em linhas etno-sectárias). Sem muito sucesso, Zakayev incentivou os milicianos chechenos a permanecerem leais à causa pseudo-nacionalista (agora também enterrada pela colaboração mais do que extensa do próprio Maskhadov com o terrorismo islâmico). Isso também lhe rendeu uma sentença de morte por um tribunal da Sharia no Emirado. Por sua vez, Umarov deixou claro que não precisava da aprovação de homens que nem sequer estavam na região. Seu dever, declarou ele, era lutar para criar um estado no qual sua interpretação fundamentalista e radical da Shari’a seria aplicada. Além disso, em sua opinião, a jurisdição do Emirado do Cáucaso ia além das fronteiras da região. Ela se estendia a todas as áreas da Rússia habitadas por muçulmanos que inevitavelmente teriam que se juntar a ele, pois, em sua opinião, eles eram oprimidos pelo governo de Moscou.
Movladi Udugov também era da mesma opinião: ex-Ministro da Informação do governo de Dzochar Dudaev (patrono da causa separatista chechena no início da década de 1990). Em 2008, ele também foi capaz de declarar que a ideia de um “Estado Islâmico” não tem fronteiras. Consequentemente, era errado se concentrar exclusivamente no Cáucaso. Ainda em 2011, no site de computador kavkazcentr.ru (o principal órgão de divulgação da propaganda wahhabi-jihadista no Cáucaso), Umarov chegou a afirmar a necessidade de reconquistar as regiões de Astrakhan, os Urais e a Sibéria!
Não é preciso dizer que sua iniciativa não teve sucesso entre as populações muçulmanas da Rússia, nem no Cáucaso nem em outros lugares (graças também às relações com as monarquias do Golfo estabelecidas por Akhmad Kadyrov e seu filho Ramzan). Entretanto, para dar uma aparência de credibilidade a uma “instituição” que existia apenas em sua cabeça, Umarov dividiu o território do emirado fictício em seis províncias (vilayats): o Vilayat da Circássia, o Vilayat de Kabarda-Balkaria, o Vilayat da Estepe de Nogaj, o Vilayat de Galgayche (correspondente à Inguchétia), o Vilayat da Chechênia e o do Daguestão. Cada um deles, liderado por um de seus tenentes, deveria participar igualmente do conflito contra os “infiéis” russos.
Devido à disponibilidade limitada de capital humano em uma região que estava redescobrindo rapidamente as formas tradicionais e ortodoxas do Islã, o confronto militar com Moscou resultou em uma série de ataques e ameaças terroristas. Os mais famosos são certamente os ataques explosivos ao trem expresso Nevsky em 2009, ao metrô de Moscou em 2010 e ao aeroporto de Domodedovo em 2011. Por último, mas não menos importante, foram os ataques no Daguestão em 2012, as explosões em Volgogrado em 2013 e os confrontos armados entre os milicianos do Imarat Kavkaz e as forças de segurança em Grozny em 2014. Sem mencionar as contínuas ameaças de bomba com as quais os terroristas tentaram estragar a atmosfera dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, também em 2014.
No entanto, desde 2010, com a criação do Distrito Federal do Cáucaso do Norte, o lançamento da Estratégia 2025 (voltada para a consolidação econômica regional) e a coordenação das forças de segurança locais e federais em várias operações de contraterrorismo, Moscou conseguiu limitar bastante as ações do grupo terrorista. O próprio Umarov morreu em 2013 em circunstâncias pouco claras (possivelmente em decorrência de envenenamento), enquanto três de seus sucessores foram eliminados entre 2015 e 2016. Além disso, em 2014, coincidindo com a ascensão no Levante do pseudo-califado liderado pelo autoproclamado califa Abu Bakr al-Baghdadi, muitos comandantes do Imarat Kavkaz preferiram optar pela plataforma ideológica da nova entidade terrorista, apesar do fato de que alguns porta-vozes do emirado criticaram abertamente seu estilo de combate voltado principalmente contra outros muçulmanos considerados “infiéis” ou (pior ainda) “apóstatas” e não contra o “inimigo externo” (a abordagem tradicional da primeira al-Qaeda).
Impulsionado pelas numerosas “mudanças de revestimento”, o autodenominado “Estado Islâmico” deu origem, em 2015, ao Vilayat Kavkaz (abrangendo, em teoria, toda a região do Cáucaso, do Mar Negro ao Mar Cáspio) e a novos portais de informação em língua russa (entre os quais se destaca o Istok, “a fonte”), que deveriam competir diretamente com o já mencionado kavkazcentr.ru.
A propaganda do novo “Estado Islâmico” foi (e é) baseada no fato de que a jihad, concebida como a obrigação individual de cada crente, produziria uma recompensa principalmente terrena (e não exclusivamente sobrenatural): ou seja, a possibilidade de viver dentro do próprio pseudo-califado.
Não é preciso dizer que essa abordagem tem muito mais em comum com o messianismo judaico (que visa reconstruir o Reino de Israel puramente material e, assim, trazer “Deus para a terra”, acelerando a chegada dos “tempos messiânicos”) ou com a “teologia da prosperidade” evangélica-protestante (todos focados em recompensas terrenas) do que com a escatologia islâmica tradicional. E é igualmente inútil afirmar que esse aspecto trai a origem ocidental e pós-moderna da entidade terrorista; o resultado de uma mistura de instâncias religiosas influenciadas pelo puritanismo e um outro extremo da heterodoxia wahhabita.
O fato é que a indubitável capacidade promocional do grupo (construída em torno de elaboradas mensagens gráficas em vídeo) representou uma ameaça à Rússia em termos de proselitismo potencial na região do Cáucaso (não poucos milicianos dessa área acabaram engrossando as fileiras dos supostos “rebeldes sírios”). E isso, além da manutenção das importantes bases militares em Tartus e Latakia, foi o principal motivo da intervenção direta da Rússia na Síria (que, de acordo com algumas fontes iranianas, também ocorreu graças aos esforços diplomáticos do general Qassem Soleimani, um dos inimigos mais ferrenhos do ISIS, não por acaso eliminado por ordem de Donald Trump). Essa intervenção também foi o produto da repetida agressão ocidental na área do Mediterrâneo. Uma agressividade que, em 2011, levou à destruição da Líbia (com a qual Moscou estava estreitando cada vez mais as relações) depois que a própria Rússia (juntamente com a China) ingenuamente se absteve de votar na Resolução 1973 do Conselho de Segurança da ONU. Essa resolução, embora previsse um cessar-fogo imediato entre as partes em conflito, não concedeu à OTAN nenhuma autorização para bombardear o estado do norte da África. Entretanto, depois do que aconteceu na antiga Iugoslávia e com a agressão ao Iraque em 2003, esse evento deixou ainda mais claro que a diplomacia anglo-americana envolve a tentativa constante de enganar o outro lado, se não os próprios satélites.
Por fim, não se pode descartar que Moscou também esteja ciente, desde o início dos anos 2000, da inconsistência substancial da “Guerra ao Terror”, primeiro do governo Bush e depois do governo Obama. Como é bem sabido, os Estados Unidos há muito tempo financiam e apoiam os movimentos islâmicos que, de acordo com a estratégia de Zbigniew Brzezinski, deveriam ter construído uma espécie de “cinturão verde” nas fronteiras do sul da URSS e, posteriormente, da Federação Russa. A esse respeito, uma declaração do ex-agente da CIA Graham Fuller continua famosa: “a política de orientar a evolução do Islã e ajudá-lo contra nossos adversários funcionou maravilhosamente bem no Afeganistão contra os russos. As mesmas doutrinas ainda podem ser usadas para desestabilizar o que resta da Rússia e para combater a influência chinesa na Ásia Central”. Além disso, é igualmente bem conhecido que os veteranos da CIA Richard Secord, Edward Deaborn e Heine Aderholf criaram a empresa de fachada Mega Oil no Azerbaijão na década de 1990: um instrumento usado para transferir cerca de 2 mil milicianos jihadistas do Afeganistão para um campo de treinamento preparado (graças aos fundos sauditas) perto de Baku, onde os combatentes a serem enviados para a Chechênia eram preparados.
Deixando de lado o apoio da CIA à criação da al-Qaeda no contexto da jihad antissoviética no Afeganistão, o que precisa ser enfatizado aqui é o fato de que o atual “Estado Islâmico” é um derivado da própria al-Qaeda (pelo menos de seu ramo iraquiano liderado pelo terrorista jordaniano Abu Musa al-Zarqawi) e da política covarde adotada por Washington durante a ocupação do Iraque. Na verdade, quando os Estados Unidos entraram em Bagdá à frente da chamada “coalizão dos dispostos”, acharam por bem desmantelar totalmente o exército e as forças de segurança iraquianas, colocando milhares de homens com considerável treinamento militar, de espionagem e contraespionagem nas ruas da noite para o dia. Muitos desses homens tiveram que reinventar um papel e um propósito no mundo e o encontraram primeiro na mensagem qaidista e, mais tarde, na do pseudo-califado, que conheceu sua sorte militar-territorial precisamente graças às habilidades dos ex-oficiais sunitas do exército iraquiano (em alguns casos, afiliados à irmandade sufista dos Naqshbandiyya).
Não é preciso dizer que tanto a al-Qaeda no Iraque quanto o “Estado Islâmico”, desde 2014 (embora já existisse de fato muito antes), têm desempenhado um papel geopolítico preciso em nome dos EUA, combatendo a revolta nacionalista xiita do movimento ligado a Muqtada al-Sadr e contrabalançando a crescente influência iraniana no Iraque. Em outras palavras, eles serviram bem ao projeto de divisão do Iraque e, de modo mais geral, de todo o Oriente Médio, de acordo com linhas étnico-sectárias, previstas tanto no plano sionista elaborado na década de 1980 por Odet Yinon quanto no Grande Projeto do Oriente Médio dos neoconservadores norte-americanos (ainda em 2007, o atual presidente dos EUA, Joe Biden, apoiou a necessidade de fragmentação do Iraque).
A própria guerra na Síria tem sido repetidamente descrita como uma “balcanização induzida”. Aqui, a CIA, por meio da Operação Timber Sycamore, filtrou via Jordânia e Turquia uma quantidade considerável de armamentos que acabaram diretamente nas mãos de vários grupos jihadistas (em particular, a Frente al-Nusra, ligada à Al-Qaeda). Ao mesmo tempo, a coalizão ocidental anti-ISIS se distinguiu pelo bombardeio indiscriminado de Raqqa (capital do pseudo-califado) e de outros vilarejos, quando não diretamente sobre as posições do exército sírio, massacrando civis e tendo o efeito oposto de engrossar as fileiras da organização terrorista. Uma prática também implementada anos antes no Iêmen, durante a chamada “guerra de Sa’dah”, quando Barack Obama nem sequer fez distinção entre a rebelião zaidita no norte do país e os milicianos da al-Qaeda na Península Arábica, que muitas vezes operavam em simbiose com o exército em Sana’a para reprimi-la.
Quanto ao ataque em Moscou, a reivindicação do ramo de Corassã do “Estado Islâmico” não é uma surpresa em particular. O IS-K, que já havia reivindicado o ataque à embaixada russa em Cabul em 2022, há muito tempo desempenha um papel na desestabilização e sabotagem dos projetos de interconexão eurasiática na Ásia Central e do Sul: do antigo espaço soviético ao Afeganistão (onde está em guerra aberta contra o Talibã) e ao Paquistão (onde o principal alvo de seus grupos afiliados é o Corredor Econômico Sino-Paquistanês).
Mais uma vez, mesmo que se admitisse a estranheza ocidental ao ataque (embora Ancara tenha enfatizado a impossibilidade de os agressores terem agido sem a ajuda de algum serviço estrangeiro), o fato é que esse grupo representa um peão facilmente explorável para a geopolítica do caos dos EUA. De fato, ele continua a fornecer uma quantidade considerável de mão de obra para uso em vários teatros quentes no continente eurasiano.
Terrorismo internacional e Ucrânia
Em um artigo publicado no site informático ‘Eurasia’ em 10 de junho de 2022, sob o título Guerra Demográfica e Guerra Econômica, já foi apresentada a hipótese de que o fluxo de armas ocidentais para a Ucrânia faria a fortuna do crime organizado local, que está inextricavelmente ligado tanto ao regime de Zelensky quanto às organizações terroristas internacionais que operam entre o Cáucaso e a Ásia Central.
Negar (ou pelo menos ocultar) as conexões entre Kiev e esses grupos é certamente útil para a propaganda de guerra ocidental, mas também é uma verdadeira fuga da realidade. Por exemplo, o Batalhão OBON (ou Sheikh Mansur), parte da Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia e composto em grande parte por milicianos chechenos e do norte do Cáucaso, está ativo em solo ucraniano desde 2022. O batalhão foi criado pelo já mencionado Akhmad Zakayev para combater o inimigo comum russo. Entre os líderes do batalhão estão os terroristas Rustam Magomedovic Azhiev, Hadzij-Murad Zumso e Amaev Khavazhi. O primeiro é um veterano do conflito na Síria, onde liderou o grupo jihadista Ajnad al-Kavkaz (Soldados do Cáucaso), composto principalmente por ex-combatentes do Emirado do Cáucaso e implantado na área de Latakia. Após seu destacamento na Ucrânia, os milicianos da Ajnad al-Kavkaz desempenharam um papel de liderança na batalha de Bakhmut/Artemovsk e em repetidas tentativas de penetrar na região russa de Belgorod (principalmente com o objetivo de aterrorizar a população civil local).
Não menos importantes são os entendimentos entre o famoso Batalhão Azov, o ISIS e a al-Qaeda. O veterano do batalhão, Aleksey Levkin (já em excelentes relações com os grupos extremistas norte-americanos Rise Above Movement e Atomwaffen Division e protagonista de várias incursões no território de Belgorod), expressou repetidamente sua admiração pelos métodos usados pelos grupos sectários islâmicos. Não é coincidência que o terrorismo contra a população civil tenha caracterizado tanto a experiência do pseudo-califado entre a Síria e o Iraque quanto o domínio azovista em Mariupol antes de sua libertação em 2022.
Essas semelhanças também são encontradas no estilo de propaganda. Os vídeos do pseudo-califado e os do Batalhão Azov são caracterizados por um uso notável de imagens aéreas, o uso de drones e a busca constante por uma forma de evocação pseudo-espiritual. Também não deve ser subestimada a aversão comum que ambos os grupos parecem demonstrar pela sacralidade autêntica. Se o alegado “paganismo” azovista levou os membros do Batalhão a saquear igrejas ortodoxas (naturalmente aquelas ligadas ao Patriarcado de Moscou) e a queimar seus ícones, é por demais sabido que os milicianos do ISIS estão empenhados em destruir o patrimônio histórico e espiritual do território que controlam (de Palmira a Nínive) e seu total desprezo pelos locais de culto e oração (veja o ataque ao cemitério de Kerman, no Irã).
Isso os torna protagonistas do que, em várias ocasiões, o escritor definiu como um processo de “dessacralização do espaço”. Um processo que anda de mãos dadas com a ocidentalização do mundo e que tem seu porta-estandarte mais orgulhoso no sionismo, que profana e destrói igrejas, mesquitas e cemitérios para a total indiferença das chancelarias ocidentais.
Fonte: Eurasia Rivista