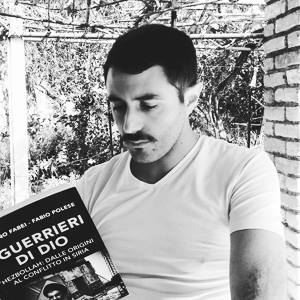O presidente estadunidense, Joe Biden, como todos os democratas, é absolutamente obcecado por derrubar Vladimir Putin. Ele agora deu para lançar insultos e acusações contra o presidente russo. Insultos e acusações hipócritas, considerando o histórico genocida dos próprios EUA.


Sete é um número sagrado em quase todas as tradições eurasiáticas. Sete são os dons do Espírito Santo no cristianismo; sete são os pecados capitais e os selos cuja quebra anunciará o fim do mundo no Apocalipse de João; sete são os braços da menorah judaica; sete são os atributos fundamentais de Alá, os céus criados por ele, as palavras da primeira sura do Alcorão e os graus das interpretações esotéricas do Livro. Sete eram os adormecidos de Éfeso; sete eram os Imãs da tradição ismaelita. Sete eram os rishi (os “cantores inspirados” dos Vedas) e sete eram os Sábios da Grécia Antiga.
Um deleas, Biante de Priene, afirmou: “οἱ πλειστoι κακoί” (a maioria é ruim). Uma afirmação aparentemente simples mas que, ao contrário, esconde toda a profundidade daquele pensamento inicial da Helenidade capaz de encerrar em uma frase o que na Modernidade requer volumes inteiros de introspecção psicológico-filosófica sobre a natureza humana. Sete, de fato, são também as nações bombardeadas durante os dois mandatos do governo Obama-Biden: Afeganistão, Iraque, Paquistão, Líbia, Síria, Iêmen e Somália. Somente em 2016, os Estados Unidos lançaram 26.172 bombas sobre estes sete países. Em 2015, algumas das bombas humanitárias do Prêmio Nobel da Paz caíram sobre o hospital Kunduz no Afeganistão, matando 42 civis. Deve-se reconhecer que, nesta corrida para o abate, a administração Trump-Pence não ficou para trás. Sem considerar a destruição total da cidade síria de Raqqqa em 2017 (capital do autodenominado “Estado Islâmico”), entre milicianos e civis incluídos, o “Presidente que não iniciou novas guerras” (sic!), só em 2019 lançou mais bombas sobre o Afeganistão e o Iêmen do que seus antecessores, atingindo um pico de 7.423 dispositivos somente no país da Ásia Central. A nova administração Biden-Harris também parece ter começado com a melhor das intenções. Nos últimos dias de fevereiro, de fato, depois de declarar “a América está de volta!” e “a diplomacia está de volta!”, o novo presidente dos EUA ordenou um bombardeio “direcionado” contra as posições de algumas milícias sírias culpadas, segundo ele, de ameaçar as tropas americanas que ocupam (ilegalmente) a parte nordeste do país, e que se dedicam ativamente à pilhagem dos recursos naturais e à destruição dos campos de grãos para afastar ad infinitum qualquer potencial reconstrução e pacificação da Síria.
Agora, ignorando por um momento o fato de que um Presidente dos Estados Unidos da América (uma nação fundada no genocídio), mesmo no remoto evento de que ele possa estar certo, não pode chamar ninguém de assassino (o suposto Biden católico, neste caso, parece não ver a tábua em seu próprio olho), afirmar “diplomacy is back!” e depois de alguns dias para acusar o Presidente da segunda potência mundial (em termos militares) de ser um “killer” não parece ser exatamente uma boa estratégia diplomática. Sem mencionar que parece estar de acordo com as expressões muito coloridas usadas por Donald J. Trump para definir seus adversários de acordo com o momento: do “foe” (inimigo) para a Europa, ao “rocketman” (rocketman) para Kim Jong-Un, ao refinado “son of a bitch” (a tradução é deixada ao leitor) para o general iraniano Qassem Soleimani. Entretanto, para aqueles que sabem ler nas entrelinhas, a mensagem (e sobretudo o propósito) da declaração de Biden é mais clara do que se pode imaginar.
O escritor tem frequentemente sustentado a tese de continuidade geopolítica substancial entre as várias administrações norte-americanas. Pelo menos desde os anos 50, quando a China, após sua intervenção na Guerra da Coréia, surgiu como a terceira potência entre os dois principais concorrentes ideológicos da Guerra Fria, a estratégia geopolítica norte-americana concentrou-se em encontrar uma costa (seja do lado soviético ou do lado chinês) para alternar e isolar um dos dois rivais. Esta estratégia funcionou tanto em uma chave anti-chinesa entre o final dos anos 50 e o final dos anos 60, quanto em uma chave anti-soviética com o desanuviamento sino-americano do início dos anos 70. Este desanuviamento foi determinado pelo fato de que, naquele preciso momento histórico, a China maoísta, econômica e tecnologicamente ainda fraca, não representava uma ameaça particular para os Estados Unidos, que estavam muito mais interessados na contenção da URSS e nos recursos do Oriente Médio. De fato, não se deve esquecer que a própria China, também antes do nascimento da República Popular, era considerada pelos Estados Unidos (junto com a Índia, talvez não dividida pela partição) como um elemento fundamental para deter a projeção geopolítica soviética no continente asiático.
Hoje, a situação parece ter se revertido. O Oriente Médio não desempenha mais um papel central na estratégia norte-americana, tendo sido substituído pela área do Mar do Sul da China, potencialmente rica em recursos naturais e que se tornou o centro do comércio global no século XXI. A China, tecnológica, econômica e militarmente cada vez mais forte e capaz de projetar sua própria influência através de dinâmicas que se propõem como uma alternativa aos modelos da globalização neoliberal (da relação institucional direta entre governos e não entre governos e empresas multinacionais à não imposição de reformas estruturais de tipo neoliberal nos Estados com os quais se estabelecem relações comerciais), constitui a mais séria ameaça ao declínio da hegemonia global dos Estados Unidos.
À luz deste fato, vários (supostos) estrategistas e analistas geopolíticos norte-americanos (mais ou menos acessíveis a ambos os lados), vêm sustentando, há alguns anos, com certa constância, a necessidade de uma aproximação com a Rússia em chave anti-chinesa. Tal aproximação, porém, pelo menos de acordo com a corrente “democrata”, deveria pressupor antes de tudo uma remoção de Vladimir Putin do poder. E esta remoção pressupõe, antes de tudo, a imposição de uma pressão constante sobre a Rússia (também visando a desestabilização interna por meio de uma “quinta coluna” composta por oligarcas, pseudo-liberais e agitadores de vários tipos), sobre tudo no momento em que esta, através de uma inteligente “diplomacia vacinal” (dada também pelo fato de que o Sputnik V, não surpreendentemente, parece ser mais eficaz do que as vacinas produzidas pelas empresas farmacêuticas multinacionais “ocidentais”), está se propondo novamente em escala global e continental, quebrando a “nova cortina de ferro” colocada nas fronteiras ocidentais da Federação.
A obsessão “democrata” por Vladimir Putin certamente não é nova e de certa forma é um contrapeso à obsessão republicana pela China. Recentemente, a este respeito, teria sido produzido um novo relatório sobre a suposta interferência russa (com o objetivo de levar à reeleição de Donald J. Trump) nas recentes eleições norte-americanas. Ao mesmo tempo, de acordo com o referido relatório, o Irã supostamente interferiu para que Biden fosse eleito, enquanto a China manteve uma posição de não-interferência substancial. Sem entrar nos méritos destes relatórios apresentados alternadamente com um prazo eleitoral por ambos os lados do espectro político norte-americano (e sem julgar a presunção e a hipocrisia com que o país-príncipe da interferência externa faz certas acusações), parece evidente que a tirada bastante infeliz de Joe Biden, além do desejo de advertir a colônia européia das possíveis repercussões para o “crime” de fazer negócios com a Rússia (o laço sancionador em torno da construção do Nord Stream 2 é um exemplo emblemático), também poderia ter sido determinado por este fator.
Portanto, se é verdade que a mensagem, em alto e bom som, visa principalmente manter o sentimento russofóbico entre as fileiras dos colaboracionistas europeus, é igualmente verdade que isto também se destina à esfera interna. A crise pandêmica, de fato, além de destacar globalmente as decepções do neoliberalismo, ampliou ainda mais as linhas de falha dentro da sociedade norte-americana. Esta sociedade, profundamente dividida econômica, racial e geograficamente, é mantida unida única e exclusivamente pela idéia de “Destino Manifesto” que é declinada alternadamente num sentido evangélico messiânico ou secular, dependendo de quem ocupa as primeiras posições de poder.
A identificação de um inimigo é sempre útil para revigorar a sensação de suposta superioridade moral colocada na base do logos existencial dos Estados Unidos, especialmente em um momento em que a raiva pelo declínio de seu status hegemônico (pelo fim do momento unipolar) está rapidamente aumentando e os próprios EUA não são mais capazes de impor (exceto aos mais complacentes) um modelo estratégico baseado no mero uso da força para negociar a partir de posições de vantagem. Melhor ainda se tal inimigo se presta à criminalização individual que pode permitir o uso de esquemas pseudo-humanitários (mais ou menos os mesmos que nos últimos dias levaram a Grã-Bretanha, protagonista no apoio logístico e militar aos degoladores que destruíram a Síria, a acusar Asma al-Assad de crimes de guerra).
Diante de tal situação, e observando que no campo das relações internacionais não há santos (e que “a maioria é ruim”, como afirmou Biante de Priene), parece, no entanto, correto relatar algumas passagens da resposta de Vladimir Putin ao presidente norte-americano:
“Quero lembrar que os Estados Unidos são o único Estado do mundo que empregou a bomba atômica contra outro Estado, desprovido desta arma, no final da Segunda Guerra Mundial. No bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki não houve absolutamente nenhum sentido militar, foi apenas puro extermínio direto da população civil. Sabemos que os Estados Unidos estão interessados em ter certas relações conosco e somente em questões que lhes convêm e em seus termos. Somos diferentes, temos um código genético diferente e um código moral diferente, mas sabemos como defender nossos interesses e cooperaremos com os Estados Unidos, mas somente naquelas áreas e sob aquelas condições que nos convêm, eles terão que aceitar isso, apesar de todas as suas tentativas de impedir nosso desenvolvimento, apesar de todas as suas sanções e insultos”.
Fonte: Ereticamente