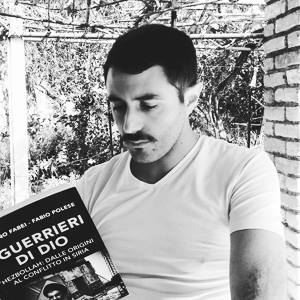Com a eleição de Trump vê-se uma renovação parcial na superestrutura da elite estadunidense, com uma mais ligada à tecnologia ascendendo ao poder, bem como elevadas expectativas por parte dos sionistas messiânicos.


Já em 1942, no célebre ensaio Terra e Mare, o jurista alemão Carl Schmitt afirmou: “A fé na predestinação é apenas a intensificação extrema da consciência de pertencer a um mundo diferente daquele corrompido e condenado ao declínio”[1].
Se transferirmos esse conceito para a realidade atual, fica evidente que o neotrumpismo, com sua fé no “renascimento americano” após a derrota das corrompidas “elites globalistas”, surge como a tentativa de apresentar o novo curso dos Estados Unidos como algo “outro” em relação àquele anteriormente condenado ao declínio.
No Ocidente hegemonizado culturalmente por Washington, a cada quatro anos as massas se entusiasmam com o processo eleitoral norte-americano, na crença (completamente equivocada) de que isso possa realmente gerar uma “virada épica” ou alguma “ruptura histórica”. Foi assim já nos tempos de Ronald Reagan e do primeiro mandato de Barack Obama, também capaz de angariar apoio de ambos os lados da “barricada” (não se deve esquecer que o principal apoiador da campanha eleitoral de Donald J. Trump, Elon Musk, manteve durante muito tempo relações mais que amistosas com a administração Obama e com os círculos próximos aos democratas).
A história, no entanto, frequentemente ignorada por analistas e veículos de comunicação, conta algo completamente diferente. Fica claro, então, que os fenômenos e dinâmicas que estamos testemunhando estão inseridos em um processo histórico que possui raízes profundas, se desenvolve em tempos dilatados e terá efeitos durante anos e décadas sobre as gerações futuras.
Esse processo, indissoluvelmente ligado ao declínio do poder hegemônico global dos Estados Unidos, não pode ser interrompido; no máximo, pode ser acelerado ou retardado. É evidente que, em um mundo que avança em direção à evolução multipolar (centrada neste momento na desdolarização e na construção de um sistema multivalutário), a eleição de Donald J. Trump representa uma espécie de “poder de contenção”: um novo katechon (para usar um conceito também empregado por Carl Schmitt) que enche de esperança os nostálgicos da ordem unipolar.
Diante do desafio de forças multipolares (como Rússia, China, Irã, entre outras) que questionaram o paradigma dogmático da ordem global liberal (sobretudo a partir da crise econômica de 2007-2008), o trumpismo aparece como a tentativa dos Estados Unidos de liderar o processo de transição para o multipolarismo, e não de se submeter a ele. Em outras palavras, trata-se de uma reinterpretação “conservadora” do multilateralismo proposto, à época, pelo duo Obama-Clinton.
Nesse contexto, são particularmente interessantes as reflexões de Patrick Deneen (considerado um dos pensadores de referência de J.D. Vance) sobre a ordem global americana pós-liberal, assim como as de Curtis Yarvin (outro ideólogo destacado do neotrumpismo), a quem se deve a ideia de que o Presidente dos EUA deveria atuar como uma espécie de CEO empresarial para gerenciar o processo de transformação do sistema norte-americano[2].
Esse “processo de transformação” nada mais é do que o resultado do confronto entre diferentes potências econômicas: a aliança (bastante peculiar) entre grupos oligárquicos ligados à alta tecnologia (Musk e similares) e à indústria petrolífera contra os setores “tradicionais” (da finança transnacional a parte do complexo militar-industrial), que até agora garantiram o acesso à Casa Branca. Não se deve subestimar, de fato, o dado de que as próprias empresas de “alta tecnologia” hoje se apresentam como potenciais concorrentes no mercado de armamentos em relação à indústria militar tradicional.
Consequentemente, retomando uma ideia sustentada pelo já citado Yarvin, tratar-se-ia da substituição do antigo “Estado profundo” por um completamente renovado, auxiliado por uma superestrutura ideológica “parcialmente renovada”.
Naturalmente, os supostos alinhamentos são muito mais transversais e ricos em nuances do que se poderia imaginar. Basta pensar que figuras como Larry Fink (à frente do conhecido fundo de investimentos BlackRock) desfrutam de ótimas relações em ambos os lados. O próprio processo de reindustrialização dos Estados Unidos (visado por parte dos grupos oligárquicos que hoje apoiam Trump) teve início ainda na era Obama e, paradoxalmente, a administração Biden (com a destruição do tecido industrial europeu em consequência da guerra contra a Rússia) deu passos gigantescos nesse sentido.
Entre outras coisas, reafirmando o conceito de tempo dilatado dos fenômenos históricos, seria útil lembrar que o processo de desindustrialização do Ocidente começou muito antes da era do globalismo desenfreado. Como afirmou Johann von Leers em um de seus panfletos que refutava alguns mitos spenglerianos: “A dispersão da indústria ocidental está em pleno desenvolvimento desde 1900. As fiações indianas são criadas como filiais de fábricas inglesas […] Nos Estados Unidos, a indústria emigra continuamente de Chicago e Nova York para os territórios negros do Sul, e a tendência não parará nem mesmo diante das fronteiras do México”[3].
Assim, é bastante curioso constatar como um dos primeiros ideólogos do trumpismo, Steve Bannon, frequentemente elogiou esse “capitalismo iluminado” do início do século XX, que forneceu aos Estados Unidos os meios para derrotar o nazismo e “repelir um império bárbaro no Extremo Oriente” (uma referência à URSS)[4].
Conforme mencionado anteriormente, o neotrumpismo não se afasta significativamente da dialética política tradicional dos EUA, centrada em duas interpretações distintas dos conceitos teológicos de “predestinação” e “destino manifesto”. Embora o trumpismo inicial fosse mais extremado, o neotrumpismo, tendo abandonado parcialmente as pautas pseudorreligiosas e conspiracionistas (como o fenômeno QAnon, que ainda não está totalmente extinto e pode ressurgir quando necessário), aparece mais pragmático, embora continue enraizado nas seitas protestantes messiânicas e judaicas. A escolha da “equipe de governo” é emblemática nesse sentido, permitindo uma primeira aproximação ao debate mais propriamente geopolítico.
Por exemplo, como Secretário de Estado, foi escolhido o senador da Flórida, Marco Antonio Rubio, que superou a concorrência de Mike Pompeo (que, durante o primeiro mandato de Trump, substituiu o petrolífero Rex Tillerson). Contudo, sua visão sobre política externa não difere substancialmente da do “neoconservador” Pompeo. Rubio foi um defensor convicto da invasão do Iraque em 2003 e da intervenção na Líbia (sob a liderança da OTAN) em 2011. Além disso, apoiou o suporte logístico dos EUA à coalizão liderada pela Arábia Saudita na agressão ao Iêmen, cujo auge ocorreu durante a primeira administração Trump. Em 2017, Rubio também apoiou uma iniciativa bipartidária do Senado americano contrária à Resolução 2334 da ONU, que considerava a construção de assentamentos israelenses nos Territórios Ocupados da Cisjordânia uma violação do direito internacional[5]. Por fim, Rubio é abertamente crítico da política atual da Turquia, um fator relevante diante da crescente tensão entre Tel Aviv e Ancara.
Ainda mais interessante é a nomeação da ex-militar e ex-democrata Tulsi Gabbard como Diretora de Inteligência Nacional. Crítica da intervenção militar na Síria, Gabbard parece ter sido escolhida para viabilizar o “sonho” de reaproximação com a Rússia e divisão do eixo Moscou-Pequim, base da chamada “Grande Eurásia” (segundo o geopolitólogo russo Sergey Karaganov). Um dos objetivos da administração Trump parece ser o progressivo desengajamento do teatro ucraniano, inicialmente transferindo os custos para a Europa (forçando um aumento nos gastos militares) e, posteriormente, buscando um compromisso para congelar o conflito. Resta entender o quão disposta Moscou estaria para esse compromisso — sendo a solução mais plausível a divisão da Ucrânia em esferas de influência, sua neutralidade e o reconhecimento das conquistas territoriais russas — e como Washington mascararia o que parece ser uma derrota estratégica. É provável que essa seja integralmente atribuída à administração Biden.
No entanto, é importante lembrar que durante o primeiro mandato de Trump, com a saída unilateral do Tratado INF e o fortalecimento da presença militar da OTAN nas fronteiras da Rússia (incluindo a Iniciativa Três Mares), foram lançadas as bases para a atual situação de conflito. Além disso, é relevante mencionar que, na época da eleição de Volodymyr Zelensky, o Ukraine Crisis Media Center (uma ONG financiada pela OTAN e ligada a Petro Poroshenko, que mantinha boas relações com a administração Trump) forneceu ao recém-eleito presidente ucraniano uma série de linhas vermelhas a não ultrapassar durante seu mandato. Essas incluíam a proibição de negociações com a Rússia, a proibição de processar Poroshenko por corrupção, a exclusão de um referendo sobre a entrada na OTAN e o veto a qualquer forma de autonomia para as populações russófonas.
Bastante interessante também é a nomeação de Pete Hegseth, ex-veterano do Iraque e comentarista televisivo, como Secretário de Defesa. Ele se apresenta como um defensor convicto do “choque de civilizações” de Huntington e de uma idealização moderna e islamofóbica do fenômeno histórico das cruzadas medievais. Como esse fenômeno histórico (genuinamente cristão, religioso e simultaneamente geopolítico) pode ser associado ao ultrassionismo de Hegseth permanece um mistério difícil de explicar em termos racionais, mas ainda assim relacionado ao sionismo cristão. Esse movimento, surgido no âmbito protestante em meados do século XIX, considerava o retorno dos judeus à Terra Santa como um prelúdio ao Segundo Advento de Jesus Cristo.
Em um discurso proferido no hotel King David, em Jerusalém, em 2019, durante a conferência anual do Arutz Sheva (um canal de informação próximo ao sionismo religioso), Pete Hegseth apresentou claramente suas ideias. Primeiro, ele defendeu a existência de um “eternal bond” (vínculo eterno) entre Israel e os Estados Unidos[6]. Em segundo lugar, alinhado ao pensamento huntingtoniano e em oposição ao “liberal” Fukuyama, afirmou que a “história não acabou” e que “a América não é inevitável”[7]. Consequentemente, ele sustenta que a própria América deve intervir continuamente na história para manter sua primazia, eliminando seus rivais e os de Israel, começando pela “cabeça do polvo”: a República Islâmica do Irã[8].
Além disso, no mesmo discurso, Hegseth garantiu seu apoio à anexação total da Palestina por Israel e enumerou uma longa lista de “milagres” que demonstrariam o “apoio divino” à causa sionista:
“1917 foi um milagre; 1948 foi um milagre; 1967 foi um milagre; 2017, a declaração de Jerusalém como capital, foi um milagre, e não há razão para acreditar que o milagre da reconstrução do templo no Monte do Templo não seja possível”[9].
Na mesma linha de pensamento está o novo embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, que em diversas ocasiões defendeu a inexistência e insignificância histórica do povo palestino, além de criticar o uso do termo “ocupação” para descrever o regime sionista nos Territórios Ocupados.
Agora, o vínculo do trumpismo com as expressões (mesmo que diferentes) do messianismo judaico não é uma novidade particular. O genro do próprio Trump, Jared Kushner, está muito próximo da seita Chabad Lubavitch. E o próprio Trump, por ocasião do aniversário de 7 de outubro (um novo “dia da memória”), visitou o cemitério judaico de Nova York onde está o túmulo do rabino Menachem Mendel Schneerson, líder da seita, que em 1991 declarou aos seus seguidores: “Fiz tudo o que pude para trazer o Messias, agora passo essa missão para vocês; façam tudo o que puderem para fazê-lo chegar”[10]. Até aqui, nada de particularmente relevante. No entanto, é curioso notar como o apoio a essa seita é, na realidade, bastante transversal dentro da política norte-americana. O próprio rabino, de fato, recebeu a Medalha de Ouro do Congresso dos EUA em 1994, entre os aplausos do então presidente democrata Bill Clinton. E os Chabad Lubavitch, entre seus antigos amigos, podem contar com o ex-presidente Joe Biden, apreciado por suas posições sionistas sinceras. Isso demonstra ainda mais que, na luta ideológica entre as elites norte-americanas, na realidade, existe, além das aparências, uma notável continuidade de intenções (especialmente no campo geopolítico) entre as diferentes administrações.
Agora, no plano prático, as escolhas de Trump indicam uma direção precisa: o reconhecimento da soberania israelense sobre a Cisjordânia (seguindo o que já foi feito com as Colinas de Golã durante o primeiro mandato). Isso, no curto prazo, servirá para acalmar Netanyahu, de quem se espera, em troca, um desengajamento do Líbano. A comunidade árabe nos EUA, de fato, votou majoritariamente em Donald J. Trump graças à intercessão do milionário libanês-americano Massad Boulos, cujo filho Michael é casado com Tiffany Trump (filha mais nova do recém-eleito presidente dos EUA). E o próprio Boulos parece ser um nome forte para um papel de destaque na política libanesa uma vez “libertada” da presença incômoda do Hezbollah[11]. Nesse caso, não devem surpreender os reiterados apelos de Tel Aviv (até agora infrutíferos) à “rebelião” dos próprios libaneses contra o Partido de Deus e sua marginalização política.
Ao proceder dessa maneira, o Líbano, no médio e longo prazo, poderia ser integrado ao sistema dos “Acordos de Abraão”, garantindo a Israel uma expansão de sua zona de influência que poderia alcançar as fronteiras da Turquia (outra razão para as crescentes preocupações de Ancara, dado o apoio de Tel Aviv às facções curdas).
Revigorar e expandir os “Acordos de Abraão” significa, em primeiro lugar, afirmar o papel de Israel (e, portanto, dos EUA) como eixo central de um corredor energético-comercial (a “Rota do Algodão” idealizada pela administração Biden), que vai do Oceano Índico ao Mediterrâneo Oriental e concorre diretamente com o projeto chinês da Nova Rota da Seda e com o papel dos portos turcos na região.
Em segundo lugar, a simultânea liquidação da questão palestina e a redução das capacidades do chamado “Eixo da Resistência” de atacar Israel de forma assimétrica aparecem como funcionais ao plano dos EUA de cercar, atacar (diretamente?) e destruir a República Islâmica do Irã. Este último objetivo, muito provavelmente, será deixado como legado ao sucessor de Donald J. Trump.
Notas
[1]C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, Adelphi, Milano 2002, p. 84.
[2]Estes aspectos já foram abordados no artigo Paleotrumpismo e neotrumpismo, 18 settembre 2024, www.eurasia-rivista.com.
[3]J. von Leers, Contro Spengler, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma 2011, p. 51.
[4]Ver A. Braccio, Gli USA contro l’Eurasia: il caso Bannon, 20 settembre 2018, www.eurasia-rivista.com.
[5]Ver Bipartisan group of senators call for repealing UN resolution on Israel, 5 gennaio 2017, www.timesofisrael.com.
[6]Ver Pete Hegseth at Arutz Sheva Conference, www.youtube.com.
[7]Ibidem.
[8]Ibidem.
[9]Ibidem.
[10]Ver C. Mutti, Le sètte dell’Occidente, Eurasia. Rivista di studi geopolitici, n. 2/2021, vol. LXII.
[11]Massad Boulos: the Lebanese billionaire behind Trump’s Arab-American votes, 7 novembre 2024, www.trtworld.com.
Fonte: Eurasia Rivista