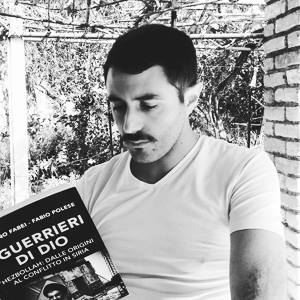Israel, além de suas pretensões messiânico-escatológicas, representa a posição avançada da Cartago norte-americana na Ásia Ocidental, sendo projeção dos próprios EUA. Nesse sentido, a existência do Estado de Israel, pelo menos em sua configuração atual e no contexto da hegemonia unipolar, tendo a sempre apresentar a possibilidade de conflito regional.


Introdução
Em um artigo publicado no site de computador da “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, datado de 20 de setembro de 2020 e intitulado “O declínio dos EUA e o eixo islâmico-confucionista”, o autor fez referência aberta ao fato de que a recém-descoberta cooperação entre os diferentes componentes da resistência antissionista, após as divisões surgidas após a agressão contra a Síria, poderia ter representado uma “certa ameaça” à segurança do “Estado judeu”. Em particular, foi feita uma tentativa de mostrar como o papel ativo da República Islâmica do Irã no apoio a grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica poderia ter aumentado significativamente suas capacidades militares para um nível semelhante, pelo menos, ao do Ansarullah no Iêmen (que durante anos compartilhou o destino da Faixa de Gaza em termos de embargo e cerco)[1]. Novamente, em outro artigo publicado no mesmo site (em 13 de maio de 2021) para analisar a dinâmica do ataque sionista ao bairro Sheikh Jarrah em Jerusalém Oriental, argumentou-se que essa “ajuda iraniana”, dada a condição particular da Faixa, teria tido as características de uma simples transferência de logística, dados e informações para a construção de tecnologia militar (mesmo rudimentar) no local[2].
À luz do que aconteceu na sequência da Operação Tempestade al-Aqsa, pode-se dizer (sem medo de ser contrariado) que essas considerações não estavam de todo erradas. Ao mesmo tempo, os eventos recentes, com o domínio sionista sobre a Faixa cada vez mais apertado e a vontade genocida declarada da própria liderança militar israelense (o general Ghassan Alian, por exemplo, além de comparar o Hamas com o ISIS, apostrofou explicitamente toda a população de Gaza como “animais humanos” e prometeu-lhes o inferno) merecem ser investigados em detalhes, tanto para dar uma interpretação geopolítica quanto para desconstruir a narrativa “ocidental”, mais uma vez baseada no esquema elementar de “há um agressor e um agredido”, sempre útil para reverter a responsabilidade por uma tragédia, ignorando suas causas ao longo do tempo. Para isso, esta contribuição será dividida em duas partes: a primeira parte analisará o dado político-militar, enquanto a segunda parte se concentrará em alguns aspectos geo-históricos do conflito árabe-sionista.
O dado político-militar
Quase todos os observadores ocidentais ficaram surpresos com a complexidade do ataque realizado pelo movimento de resistência islâmica no último dia 6 de outubro contra a entidade sionista (um ataque realizado por terra, mar e ar por meio do uso conjunto de botes de borracha, parapentes motorizados e o lançamento, em grandes quantidades, de diferentes tipos de foguetes capazes de sobrecarregar e penetrar o sistema de defesa antimísseis Iron Dome construído com as generosas contribuições das administrações dos EUA nos últimos anos, principalmente a de Obama). Entre esses diferentes tipos de foguetes, destacam-se o Qassam 1 e 2 (cuja produção é bastante simples e barata, considerando que eles geralmente usam materiais de resíduos de construção), o Abu Shamala ou SH-85 (nomeado em homenagem a Muhammad Abu Shamala, comandante da ala militar do Hamas morto em 2014), os Fajr-3 e Fajr-4 de fabricação iraniana (embora construídos com tecnologia norte-coreana baseada nos antigos sistemas de mísseis soviéticos de lançamento múltiplo) e os mísseis R-160 de fabricação síria. Também foi surpreendente a presença no arsenal militar do Hamas de rifles M4 de fabricação norte-americana. A esse respeito, para evitar especulações políticas fantasiosas e inúteis que teriam o Hamas aliado ao Mossad (sic!) e assim por diante, é necessário reiterar que a principal fonte de armamentos do movimento de resistência é (inevitavelmente) o mercado negro. Sem considerar os arsenais inteiros abandonados pelos ocidentais após a indecorosa fuga do Afeganistão, é importante reiterar que sempre nas colunas da “Eurasia” (também retomando uma indagação do “Washington Post”, não exatamente uma publicação que possa ser acusada de ser uma expressão da propaganda russa)[3], já havia sido enfatizado que o volumoso fluxo de armas ocidentais para Kiev acabaria, de alguma forma, alimentando o mercado ilegal de mercadorias (uma prática na qual a Ucrânia independente tem historicamente desempenhado um papel proeminente, também graças a um dos mais altos índices de corrupção em escala global). Consequentemente, não seria de todo improvável que um número (mesmo que pequeno) dessas armas acabasse na Faixa de Gaza (armas de fabricação ocidental, por exemplo, muito provavelmente via ISI paquistanês, também foram encontradas entre milicianos da Caxemira que se opõem à ocupação indiana da região).
Nesse caso, o fato que deve ser analisado, na realidade, é o evidente fracasso dos serviços sionistas, que no passado foram particularmente hábeis em se infiltrar nos territórios da Faixa e nas fileiras do Hamas. Como já mencionado, há aqueles que ainda mantêm a tese da aliança oculta ou da criação israelense do Hamas. Para ser justo, seria correto dizer que, pelo menos inicialmente (ou seja, na virada dos anos 80 e 90), seja para enfraquecer a liderança “nacionalista” da OLP dentro da luta palestina ou para praticar a divisão e o domínio dentro das facções da Resistência à ocupação sionista, Israel não impediu particularmente a ascensão do Hamas. Vale a pena reiterar que isso está de acordo com a prática político-social do movimento do qual ele é filho, a Irmandade Muçulmana (uma organização nascida no Egito em 1928 que estabeleceu a meta de repensar a Umma islâmica após a abolição do califado pela Turquia kemalista), construiu sua fortuna por meio da criação de organizações de caridade (hospitais, orfanatos, escolas e institutos para as camadas mais fracas da população) que foram a espinha dorsal de seu sucesso em um contexto econômico extremamente precário como o da Faixa de Gaza. Um sucesso que representou, no mínimo, um grave erro de cálculo por parte do aparato de segurança sionista. As dificuldades (em parte também devidas à melhoria da capacidade de contraespionagem do Hamas, outro aspecto ligado a uma colaboração mais estreita com Teerã) não podem ser dissociadas das profundas divisões internas da sociedade israelense (marcadas por crescentes tensões étnicas e até mesmo religiosas – o crescimento das comunidades ortodoxas que recusam o serviço militar não pode ser subestimado -, pela obsessão da ultrapassagem demográfica árabe e por um choque incomum, para Israel, entre as cúpulas política e militar). Até mesmo os apelos de Benjamin Netanyahu pela unidade nacional (duramente criticados tanto por seu controverso plano de reforma do sistema judiciário quanto por sua política de “tolerância zero” em relação a qualquer demanda palestina, mesmo que mínima) não surtiram os efeitos desejados. Especificamente, o primeiro-ministro foi atacado em várias ocasiões, tanto por círculos “progressistas” e “liberais” (como o histórico diário “Haaretz”) quanto por círculos conservadores mais rígidos.
Às óbvias dificuldades político-sociais internas (até o momento, a principal ameaça a Israel continua sendo a fragmentação de seu tecido social, não muito diferente da do restante do Ocidente) somam-se dificuldades de natureza militar. As declarações iniciais de Netanyahu sobre uma entrada iminente das forças armadas israelenses na Faixa de Gaza entraram em conflito com a visão mais “prudente” da liderança militar, que, no momento, parece optar principalmente por um estrangulamento lento da Faixa, sujeita a bombardeios “preparatórios” constantes e ao corte do fornecimento de alimentos, água e eletricidade. Isso, além de destacar a hipocrisia tradicional do Ocidente (que, ao contrário dos ataques russos à infraestrutura de energia da Ucrânia, não parece disposto a acusar Israel de crimes de guerra), traz à tona os riscos e os custos de uma campanha militar terrestre em um contexto urbano densamente povoado. Não é coincidência que os centros de estudo norte-americanos (na esteira do que aconteceu nos dois conflitos chechenos da última década do século XX) tenham definido o combate urbano como a característica definidora dos conflitos do novo milênio. Um tipo de combate que quase sempre favorece o defensor e que, de acordo com especialistas em táticas militares, só pode ser bem-sucedido se o atacante tiver uma clara vantagem numérica (6 a 10 para 1 sobre o oponente)[4]. Os próprios americanos enfrentaram algumas dificuldades em Falluja e, apesar de uma vantagem numérica considerável (cerca de 15.000 contra 3.000 insurgentes), só conseguiram prevalecer arrasando bairros inteiros da cidade. A Rússia, por sua vez, com exceção do caso de Mariupol (uma cidade de alto valor estratégico e “simbólico”) ou o “moedor de carne” de Bakhmut/Artemovsk, optou por limitar ao máximo o combate urbano no contexto do conflito ucraniano.
Agora, parece evidente que desvendar o sistema ramificado de túneis construídos pelos milicianos palestinos dentro da Faixa de Gaza não seria nada fácil e exporia as forças israelenses a grandes perdas (o que, em seu tempo, levou Tel Aviv a abandonar os sonhos de expansão para o Líbano). Entretanto, é igualmente evidente que o único resultado possível do conflito para Israel é a “vitória total”, ou seja, a destruição do Hamas (ou pelo menos de sua capacidade de atacar). Para atingir esse objetivo, a entrada na Faixa de Gaza (com todos os enormes riscos que isso implica, também em termos de pressão sobre a indústria bélica ocidental já experimentada pelo conflito ucraniano) parece inevitável. E, em preparação para essa intervenção, uma campanha de informação já foi posta em ação com o objetivo de desumanizar e criminalizar o adversário (a ser identificado como “mal manifesto”). É sob essa luz que devem ser interpretadas as notícias (em grande parte não confiáveis) sobre o suposto massacre de menores no kibutz de Kfar Aza, cujo objetivo é simplesmente preparar a opinião pública para um conflito prolongado; uma prática bem conhecida no Ocidente, desde o igualmente alegado massacre de Račak, que deu início à agressão da OTAN contra a Sérvia, até as acusações infundadas contra o Iraque em 2003, passando pela campanha de desinformação que abriu caminho para a destruição da Líbia (sem esquecer o massacre russo nunca comprovado em Bucha, na Ucrânia). Independentemente de esses relatos serem confirmados ou não, é curioso notar como a opinião pública mencionada acima não demonstrou a menor indignação com o assassinato (dessa vez tão real quanto repetido) de menores palestinos nos territórios ocupados pelas forças de segurança israelenses. No entanto, conforme relatado pela organização não governamental Save the Children, desde o início do ano até setembro passado, a matança atingiu o triste recorde de 38 mortes[5]. Mais uma demonstração do fato de que não há um “novo conflito” na Palestina (como alguns jornais italianos afirmam indevidamente) – o que estamos testemunhando é apenas o recrudescimento de um conflito que já dura mais de uma década – e do fato de que é igualmente impróprio afirmar que não houve um gatilho por trás do ataque do Hamas.
Nesse sentido, também será útil abrir um breve capítulo sobre o contexto internacional, já que vários analistas sustentaram a tese de que a operação do movimento de resistência palestino tinha como objetivo frustrar os esforços norte-americanos para a normalização “oficial” das relações entre Israel e a Arábia Saudita. Essa possibilidade não deve ser descartada a priori, entretanto, alguns esclarecimentos devem ser feitos: (a) historicamente, as relações entre o Hamas e a Arábia Saudita nunca foram particularmente construtivas (o movimento, ao contrário, sempre foi apoiado pelo Catar e pela Turquia, países que têm relações sólidas com Tel Aviv, embora com seus altos e baixos); b) as relações entre Israel e a Arábia Saudita não precisam ser normalizadas tão cedo, já que elas vêm ocorrendo de forma não oficial há muito tempo (como argumentou o acadêmico Madawi al-Rasheed, nem mesmo o embargo de petróleo que se seguiu à guerra de outubro de 1973 poderia ser considerado um ato hostil, dada sua duração extremamente limitada)[6]; c) não é de forma alguma uma conclusão precipitada que uma normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita (nos moldes dos “acordos de Abraão” de Trump) levaria a um congelamento do conflito na Palestina ou até mesmo a um novo acordo de paz israelense-palestino que incluiria os movimentos de resistência islâmicos, além da já amplamente deslegitimada Autoridade Nacional Palestina; d) os acordos de paz propostos até o momento no contexto ocidental sempre foram unilaterais, ignorando completamente os direitos de ambos os lados (principalmente o “plano/trapaça do século” do governo Trump, que previa, por um lado, a total legitimação dos assentamentos coloniais sionistas na Cisjordânia e, por outro, a criação de uma entidade nacional palestina desprovida de soberania, desmilitarizada e territorialmente fragmentada).
Teoricamente, portanto, seria mais correto dizer que o recente acordo para reabrir os canais diplomáticos entre o Irã e a Arábia Saudita, patrocinado pela China, de alguma forma deu ao Hamas o sinal verde para organizar o ataque. Por fim, a “trilha de Sadat” parece estar fora de cogitação: em outras palavras, a ideia de que a liderança do Hamas, como fez o sucessor de Nasser no início da década de 1970, buscou o confronto para dar uma demonstração de força e poder negociar uma saída do conflito em termos mais favoráveis. Um movimento que se apresenta como uma expressão das esperanças de vingança da Palestina (independentemente dos elementos e eventos não inequívocos que caracterizaram sua história) não pode ser comparado às aspirações pessoais do presidente de um terceiro país, o Egito, cujo objetivo final era a inclusão progressiva na órbita ocidental. A propósito, o próprio Sadat foi vítima de uma tentativa de assassinato organizada por um grupo que emergiu da Irmandade Muçulmana, apesar de o próprio presidente ter reabilitado seu nome após os anos de perseguição nasserista (embora a Irmandade tenha desempenhado um papel não desprezível nos eventos que levaram ao sucesso da “revolução” dos Oficiais Livres no início da década de 1950).
Aspectos geo-históricos
O ativista e acadêmico francês Gilles Munier comentou assim, nas páginas de “La Nation Européenne”, sobre a morte do militante da Jeune Europe, Roger Coudroy, que viajou para a Palestina na segunda metade da década de 1960 para lutar com os fida’iyyin: “A luta contra o sionismo transcende em grande parte as fronteiras da nação árabe […] A participação ativa dos europeus na luta pela libertação, como se pode entender facilmente, é uma realidade perigosa demais para os sionistas, que não podem aceitar que a imprensa se aproprie das notícias. Israel, um pilar do imperialismo anglo-saxão, é uma ameaça permanente para todos os povos que fazem fronteira com o Mediterrâneo. Aceitar sua existência significa ratificar a política dos blocos, cujo interesse está em dividir para continuar a governar. O desaparecimento de Israel privará a 6ª Frota dos EUA de seu principal pretexto para cruzar o Mediterrâneo […] A questão palestina e a hipoteca sionista sobre a Europa são um único problema, que só pode ser resolvido com o alinhamento da organização sionista mundial. A história mostrará que Roger Coudroy, assim como Che Guevara, não morreu em vão”[7].
Em outras palavras, Munier afirmou que não pode haver soberania para a Europa (em geral) enquanto Israel estiver lá. A ideia de que a entidade sionista representa um “pilar do imperialismo anglo-saxão” não é sem fundamento. Além do fato de a frota dos EUA no Mediterrâneo ter se deslocado rapidamente em direção ao litoral da entidade sionista após o ataque da resistência islâmica (sem mencionar o compromisso de Washington de considerar o envio de sistemas de armas compatíveis com os do exército israelense)[8], há inúmeros precedentes históricos que sustentam essa tese: desde o apoio incondicional durante o conflito de outubro de 1973 até a declaração do atual presidente dos EUA, Joseph R. Biden, de que “se Israel não existisse, os EUA teriam que inventar um para proteger os interesses dos EUA”[9].
Mas o amor ocidental por Israel tem origens distantes. Ao longo do século XIX, por exemplo, proliferaram na Grã-Bretanha associações (precursoras do cada vez mais difundido “sionismo cristão” de hoje) que defendiam o retorno dos judeus à Terra Santa (foram elas que cunharam a expressão mais tarde usada pelo sionismo, e absolutamente falsa, “um povo sem terra para uma terra sem povo”). Essas reflexões puramente escatológicas logo se tornaram parte de um discurso mais amplo que entrelaçava aspectos teológicos com considerações puramente geopolíticas. O político britânico Benjamin Disraeli (um judeu sefardita convertido, talvez não muito genuinamente, ao cristianismo), vários anos antes de se tornar primeiro-ministro de Sua Majestade, por exemplo, publicou vários romances nos quais surgiu a ideia de que a “nação judaica” tinha direito a uma pátria na Palestina. Em um deles, além da ideia de um protetorado britânico na Terra Santa, lemos: “Você me pergunta o que eu desejo. Minha resposta é Jerusalém. Você me pergunta o que eu desejo. Minha resposta é o Templo, tudo o que perdemos, tudo o que ansiamos…”[10].
De fato, a abertura do Canal de Suez em 1869 tornou a área do Oriente Próximo extremamente atraente para os interesses geopolíticos britânicos de controlar uma rota que reduziu consideravelmente o tempo de navegação para a Índia (deve-se também ler nesse sentido um dos últimos golpes do colonialismo europeu, a agressão conjunta franco-britânico-sionista contra o Egito de Nasser após a nacionalização do Canal em 1956). Para ser justo, Londres se opôs à construção do Canal por um longo tempo, temendo um reforço francês excessivo na área. Entretanto, quando percebeu que essa estratégia era inútil, jogou a carta da penetração financeira no Egito. Um plano que se concretizou justamente quando Disraeli era primeiro-ministro, em 1876, graças à compra de 44% das ações da Canal Company em troca de 4 milhões de libras esterlinas que foram emprestadas ao governo britânico pelo Banco Rothschild (cujos proprietários, notórios “filantropos”, eram os mesmos que mantiveram economicamente os assentamentos judeus na Palestina da primeira “aliyah” malsucedida). Dois anos depois, o fortalecimento das posições britânicas na área continuou com o controle total sobre o Chipre após o Congresso de Berlim. Mas foi somente nas primeiras décadas do século XX que a aliança entre o sionismo e a Coroa Britânica se tornou explícita, graças ao trabalho incansável de Chaim Weizmann, um químico especialista na produção de pólvora para navios, que foi extremamente hábil em se infiltrar na liderança política britânica e concretizar o projeto de Theodor Herzl de conquistar uma grande potência europeia para a causa sionista, propondo a eventual entidade judaica como um posto avançado ocidental no Levante. O próprio Herzl, de fato, tentou fazer o mesmo (sem sucesso) com a Alemanha (na verdade, o pai do sionismo político achava que o alemão deveria ser o idioma do “Estado judeu”) e com o Império Otomano. O primeiro recusou porque não queria irritar a Sublime Porta e tinha em mente o projeto de construir a ferrovia Berlim-Bagdá; o sultão otomano, por outro lado, apesar das promessas de apoio financeiro judaico para os cofres em dificuldades do império, não pôde aceitar a oferta, apresentando-se como protetor dos lugares sagrados do Islã.
De qualquer forma, com a famosa Declaração Balfour de 1917 (talvez planejada pelo governo britânico também para garantir que a influente e numerosa comunidade judaica americana pressionasse Washington a intervir diretamente na Primeira Guerra Mundial), Londres se comprometeu diretamente a estabelecer um “lar nacional para o povo judeu na Palestina” e traiu abertamente os acordos feitos com os árabes que, naqueles mesmos anos, instigados por agentes londrinos, haviam se rebelado contra o domínio otomano.
O apoio britânico naturalmente levou a um aumento exponencial da agressão e das reivindicações sionistas na Terra Santa. E foi também nesses anos que as pessoas começaram a pensar em uma “solução para a questão árabe”. Com relação a isso, é possível identificar pelo menos três tendências diferentes no sionismo. Inicialmente, pensava-se em uma espécie de “assimilação” dos árabes palestinos, o que aparece com força no romance “fantástico” de Theodor Herzl, Altneuland (A Antiga Terra Nova), publicado em 1902, no qual se argumenta que o sionismo, ao transformar a Palestina em uma sociedade ideal que toda a humanidade deveria imitar, acabaria incorporando a ela uma população indígena que só teria a ganhar com a presença judaica. A ideia de assimilação, entretanto, foi abertamente criticada pelo intérprete do sionismo cultural, Asher Ginsberg. Em um texto intitulado A Verdade da Terra de Israel, ele escreveu: “No exterior, tendemos a acreditar que a Palestina hoje está quase completamente abandonada, um tipo de deserto não cultivado, e que qualquer um pode vir e comprar toda a terra que quiser. Mas essa não é a realidade. É difícil encontrar qualquer terra árabe no país que permaneça sem cultivo […] Os colonos tratam os árabes com hostilidade e crueldade, invadem suas propriedades injustamente, batem neles sem vergonha e sem motivo algum, e se orgulham de fazer isso […] estamos acostumados a pensar nos árabes como selvagens, como animais de carga que não veem nem entendem o que está acontecendo ao seu redor”[11].
Outra tendência, alinhada com a ideia da “terra sem povo” ou a presença nela de um “povo sem identidade”, foi a negação do problema. O próprio Chaim Weizmanm, em 1917, quando questionado pelo pensador sionista Arthur Ruppin sobre as possíveis relações dos imigrantes judeus com a população palestina, respondeu de forma irritada: “os britânicos nos garantiram que na Palestina há apenas alguns milhares de kushim (negros) que não contam para nada”.
A terceira tendência, a mais difundida historicamente, tem sido a eliminação física do problema pela raiz (seja empurrando a massa da população palestina para os países vizinhos, especialmente a Jordânia, ou eliminando-a literalmente em virtude de um afluxo religioso que identificava os palestinos com os descendentes dos povos bíblicos que habitavam a região antes da conquista judaica). Ligados a essa tendência estavam personalidades como Ariel Sharon (cujos franco-atiradores da Unidade 101 entraram para a história pela prática perturbadora de atirar em camponeses árabes desarmados para expulsá-los de suas terras) e Moshe Dayan, que nunca escondeu o fato de que muitas aldeias árabes foram destruídas e/ou renomeadas em hebraico para apagar a história e a identidade da Palestina antes da colonização sionista (pense na destruição de um bairro inteiro na Jerusalém antiga para construir uma clareira em frente ao chamado “Muro das Lamentações”).
A tendência à eliminação do problema, na realidade, já estava bem presente nas elaborações teóricas dos expoentes do sionismo socialista (aquele que também atraiu as atenções de Stalin na convicção equivocada de que poderia ser usado em oposição ao Ocidente no Oriente Próximo). Entre eles, destacou-se Ber Borochov que, adotando as teses marxistas apresentadas em seus escritos sobre a “questão judaica”, apoiou a ideia de uma “derrubada da pirâmide” a ser realizada por meio do trabalho. Em sua obra ” Bases do Sionismo Proletário (1906), ele partiu de uma análise da estrutura social judaica, que foi apresentada como uma pirâmide invertida, com poucos proletários e camponeses em comparação com um grande número de pequenos comerciantes, empresários e banqueiros. Consequentemente, a “libertação do povo judeu” era impensável sem a transformação de sua estrutura social. E essa transformação só poderia ser alcançada por meio da concentração territorial na Palestina (onde, mesmo de acordo com Borochov, vivia um povo sem identidade) e da construção de um “Estado proletário judeu” baseado no trabalho.
A ênfase no trabalho, e especialmente no trabalho da terra (também bem presente nas obras de Aaron David Gordon), produziu a retórica da “terra redimida” que só poderia ser cultivada por judeus. Assim, enquanto os primeiros colonos sionistas utilizavam (e exploravam) amplamente a mão de obra árabe, os expoentes das ondas subsequentes de migração optaram por uma mudança acentuada de direção, impedindo que os agricultores palestinos trabalhassem a terra da qual haviam tirado seu sustento durante séculos. Especificamente, uma vez que a terra foi vendida ao movimento sionista por proprietários que, muitas vezes, nem estavam presentes no local (tinham suas casas em Beirute, Damasco ou Istambul), ela foi cercada e os camponeses palestinos foram expulsos por bem ou por mal. Assim, diz o acadêmico Arturo Marzano: “enquanto o modelo da primeira aliyah era o de uma sociedade baseada na supremacia judaica sobre os árabes, a segunda aliyah visava à exclusão total desses últimos”[13]. Não é preciso dizer que a equação terra judaica – trabalho judaico – produto judaico não impediu, entretanto, formas de exploração. Os sionistas, de fato, favoreceram a migração para a Palestina de judeus iemenitas (mais parecidos com os árabes) e, portanto, suscetíveis à discriminação, mantendo intacto o princípio da terra redimida mencionado anteriormente. Na verdade, até mesmo o mito econômico do kibutz, bem presente no imaginário coletivo ocidental, deveria ser reconsiderado pelo que os kibutzim historicamente têm sido: enclaves exclusivistas e rigidamente racistas. Sem mencionar o mito igualmente irreal da eficiência econômica sionista (na realidade, o Estado de Israel é uma entidade altamente dependente de ajuda externa, tanto que em muitos estudos acadêmicos ele é incluído na categoria dos chamados “Estados rentistas”).
Ao mesmo tempo, para aqueles que ainda afirmam que não houve roubo real de terras árabes, seria útil lembrar que em 1946, o ano da última pesquisa, apenas 6% do território da Palestina sob mandato britânico havia sido “legalmente” adquirido pelo movimento sionista[14]. Além disso, também vale a pena lembrar quem importou originalmente para a Palestina os métodos de terrorismo dirigidos contra a população civil (pensa-se no uso indiscriminado da violência pelo Irgun, que costumava colocar seus dispositivos em mercados ou correios frequentados por árabes)[15]. E também vale a pena mencionar que, mesmo antes do projeto de partição elaborado pela ONU, os sionistas já haviam preparado o chamado “Plano Dalet”, que previa a rápida anexação de territórios que a ONU teria dado ao componente árabe.
Concluindo, portanto, também é evidente que a solução de “dois povos, dois estados” continua essencialmente inviável. Hoje, na Palestina, duas visões de mundo totalmente polarizadas e incompatíveis se chocam: a civilização voltada para o lucro de um “pseudopovo” desenraizado (um produto da mistura de diferentes grupos étnicos) que, ao se reenraizar, simplesmente produziu uma mera imitação dos modelos ocidentais (apresentando-se como uma civilização do espírito que está enraizada na terra e na tradição e que “teimosamente” se recusa a se desviar dela). O choque continua inevitável, pelo simples fato histórico de que Israel, apresentando-se hoje como um apêndice periférico do império ocidental liderado pelos norte-americanos, assume o peso da fronteira, ou seja, da linha de falha entre civilizações diferentes que sempre se caracteriza pela presença latente de formas de conflito.
Notas
[1]Ver Il declino USA e l’asse islamico-confuciano, 20 settembre 2020, www.eurasia-rivista.com.
[2]Ver Gerusalemme e Resistenza, 13 maggio 2021, www.eurasia-rivista.com.
[3]Ver Flood of weapons to Ukraine raises fear of arms smuggling, www.washingtonpost.com.
[4]Ver Russia’s Chechen wars 1994-2000. Lesson from urban combat, www.rand.org.
[5]Ver Cisgiordania: il 2023 è l’anno più letale per i bambini palestinesi. Uccisi almeno 38 minori, più di uno a settimana, 18 settembre 2023, www.savethechildren.it.
[6]Madawi al-Rasheed, Storia dell’Arabia Saudita, Bompiani, Milano 2004, pp. 170-79.
[7]Conteúdo C. Mutti, Introduzione a R. Coudroy, Ho vissuto la resistenza palestinese, Passaggio al Bosco, Firenze 2017.
[8]Ver Israele mobilita 300 mila riservisti per l’offensiva nella Striscia di Gaza, 11 ottobre 2023, www.analisidifesa.it.
[9]Ver Biden, a veteran friend of Israel, www.timesofisrael.com.
[10]Contido em A. Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl ad oggi, Carocci editore, Roma 2017, p. 78.
[11]Ibidem, p. 49.
[12]A. Colla, Cent’anni di improntitudine, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici” 1/2018.
[13]Storia dei sionismi, ivi cit., p. 71.
[14]L. Kamal, Imperial perceptions of Palestine. British influence and power in late Ottoman times, Tauris, Londra 2015, p. 68.
[15]Ver C. Schindler, The land beyond promise. Israel, Likud and the Zionist Dream, Tauris, Londra 2002, pp. 27-35.
Fonte: EurasiaRivista