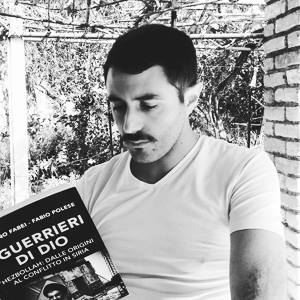Qual é a importância estratégica do Afeganistão? Além da produção de heroína e do papel central nas rotas internacionais do tráfico de drogas, o que mais há no Afeganistão? É fundamental falar das “terras raras” do subsolo afegão, além do posicionamento estratégico do Afeganistão na Nova Rota da Seda, bem como outros fatores que tornam este espaço de interesse para várias potências.

Em 2009, o jornalista e ensaísta anglo-paquistanês Tariq Ali, em seu livro O Duelo. O Paquistão na Rota de Voo do Poder Americano (Simon & Schuster 2009), declarou que se a coalizão liderada pelos EUA quisesse realmente vencer a guerra no Afeganistão, teria que destacar mais de um milhão de tropas e contar pelo menos o mesmo número de baixas totais ou um pouco menos. Em vez disso, a coalizão optou por bombardear (por meio de drones) as áreas tribais do Paquistão e do Afeganistão. Uma escolha que exaspera ainda mais as almas de uma população (em grande parte da etnia pashtun) cuja lei consuetudinária (conhecida como Pashtunwali) tem entre seus conceitos fundadores os de “turah” (coragem) e “badal“: o recurso natural às armas (à vingança sangrenta) quando um membro da família (ou comunidade) é morto.
Na verdade, a estratégia implementada pela coalizão “ocidental” não fez nada além de aumentar as fileiras da resistência durante anos. Tanto que a própria coalizão nunca controlou realmente o país, com exceção de algumas áreas nos principais centros urbanos. Consequentemente, não deve ser surpresa a rapidez e facilidade com que as forças de resistência tomaram o Afeganistão quando os EUA anunciaram sua retirada final. No entanto, as razões do que é definido (talvez precipitadamente demais) como um “fracasso ocidental” merecem uma análise muito mais profunda que vá além dos estereótipos semipatéticos apresentados pelos meios de comunicação na parte do mundo sujeita à hegemonia cultural atlantista.
Antes de mais nada, vale a pena lembrar, como o próprio Presidente dos EUA Joseph R. Biden disse em um de seus raros momentos de lucidez, que o objetivo dos EUA não era construir um Estado no Afeganistão. (É ainda menos agora que os EUA têm que lidar com os graves problemas estruturais de seu próprio sistema interno). O objetivo de Washington, na verdade, era se infiltrar no centro do continente eurasiático para evitar sua rápida interconexão. Como Marco Ghisetti relata em seu notável estudo sobre o pensamento geopolítico da talassocracia, a principal preocupação dos estrategistas norte-americanos sempre foi que o potencial industrial da rimland (a faixa costeira do “supercontinente axial”) se aliasse aos recursos do heartland (o coração da terra)[1]. A este respeito, Zbigniew Brzezinski enfatizou repetidamente o perigo de uma Eurásia interconectada e da formação de uma coalizão anti-hegemônica unida pelas intolerâncias complementares com os Estados Unidos, mais do que pela ideologia. Antes dele, Henry Kissinger também teve a sinceridade de afirmar explicitamente que durante a primeira metade do século XX os EUA travaram guerras para evitar o domínio sobre a Europa por uma única potência: enquanto durante a segunda metade do século lutaram para evitar o domínio na Ásia por uma única potência ou uma coalizão de potências. Estes, de fato, tendo alcançado hegemonia sobre seu próprio hemisfério, trabalharam agressivamente para impedir que outros fizessem o mesmo em suas respectivas macrorregiões e para assegurar militarmente um expansionismo comercial que precisava de alcance global para evitar sua própria implosão.
Foi somente em 2018 que o coronel Wilkerson (à época chefe de gabinete do ex-Secretário de Estado Colin Powell) admitiu francamente que os EUA estavam no Afeganistão para monitorar de perto qualquer tipo de esforço chinês com o objetivo de promover a interconexão acima mencionada e lançar possíveis operações de desestabilização em Xinjiang através do Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (não por acaso retirado da lista de organizações terroristas sob a administração Trump).
Anteriormente foi feita referência expressa aos “recursos do heartland”. Quais são esses recursos (em grande parte inexplorados) no caso específico do Afeganistão?
Um estudo de 2006 realizado pelo US Geological Survey (também com base em análises anteriores realizadas pelos soviéticos nos anos 80) estabeleceu que o solo afegão contém 60 milhões de toneladas de cobre, 2,2 milhões de toneladas de ferro, 1,4 milhões de toneladas de terras raras, mais ouro, zinco, lítio, urânio e mercúrio[2]. Assim, é claro que a importância geopolítica do Afeganistão não deriva exclusivamente de sua localização geográfica. E isso inevitavelmente leva a uma pergunta: como o “Ocidente” não pressionou para a exploração dos recursos do subsolo afegão?
A resposta é sempre a mesma e está de alguma forma ligada ao que poderíamos chamar de “dilema ocidental”. Este ‘dilema’ está inextricavelmente ligado à relação com a China e à estratégia de “portas aberta”. Durante décadas, os estrategistas americanos assumiram que uma China aberta ao comércio seria uma enorme vantagem para o sistema global liderado pelos EUA, desde que isso não fosse reforçado por vantagens materiais e desenvolvimento tecnológico que pudessem competir com o domínio americano no campo. O erro de cálculo tornou-se aparente quando Pequim, como Moscou, começou a agir como uma “força revisionista” dentro desse sistema global e com vistas a sua eventual superação em direção a uma ordem multipolar. Assim, a ascensão da China e sua ligação com a economia norte-americana foram toleradas na crença equivocada de que a superioridade tecnológica norte-americana poderia assegurar a hegemonia sistêmica por um longo período de tempo.
Hoje, após a crise financeira de 2008 (contrabalançada pelos cuidados paliativos sem soluções de longo prazo) e a aceleração da dinâmica geopolítica precisa provocada pela crise pandêmica o “Ocidente” liderado pelos EUA se encontra numa situação em que não pode prescindir da China (os EUA e a Europa são respectivamente 80% e 98% dependentes da China para o fornecimento das terras raras que são fundamentais para a “transição verde” que está se tenta impor ao capitalismo ocidental) mas onde a própria China planeja (até 2035) desligar-se da economia dos EUA. Neste contexto, o problema dos grupos de poder ocidentais não é a dependência da economia chinesa enquanto tal, mas o fato de que a China, em virtude de uma estratégia clarividente (não sem conotações ideológicas precisas) e definida a longo prazo, está remodelando a ordem internacional em termos opostos aos paradigmas da globalização neoliberal. Para Pequim, os principais atores nas relações internacionais não são as multinacionais, mas os governos. O diálogo e a cooperação são construídos em pé de igualdade entre as instituições políticas dos respectivos países, e em nenhum caso pressupõem a exigência de reformas políticas e econômicas neoliberais como condição para o acesso a empréstimos (uma solução que é naturalmente atraente para os países em desenvolvimento). Esta é uma das razões pelas quais o especulador George Soros nunca perde uma chance de apontar o presidente chinês Xi Jinping como o principal inimigo do modelo ocidental de sociedade.
Voltando ao Afeganistão e parafraseando novamente as declarações de Biden, o objetivo do “Ocidente” não era construir um Estado, mas manter o país em uma condição de “Estado fracassado” (trazer estabilidade a Cabul significaria de fato fortalecer a Nova Rota da Seda e a exploração dos recursos minerais afegãos pela China) ou um “Narco-Estado” (estilo Kosovo). Em 20 anos de ocupação militar, a coalizão ocidental simplesmente alinhou os bolsos dos senhores da guerra e da droga locais. Além do mais, fracassou (talvez conscientemente) na construção de centros industriais regionais (a maior mina de cobre do mundo na região de Logar, por exemplo, está sob gestão chinesa). Basta pensar no fracasso desastroso da Operação Eagle’s Summit para reiniciar a Represa de Kajaki em 2008, que foi até citada nos manuais militares britânicos como a ação mais brilhante realizada pelo Exército de Sua Majestade desde a Segunda Guerra Mundial. O chefe da operação, apesar de sua futilidade, chegou a descrevê-la como “o início do fim da guerra”[3]. E também nos 20 anos de ocupação militar ocidental, a produção de ópio aumentou exponencialmente (a produção era até refinada no local): de 70.000 hectares cultivados em 2001 para 300.000 em 2017[4]. Hoje, 90% da produção mundial de heroína vem do Afeganistão: um recorde tirado da Indochina (outra região submetida à agressão dos EUA na virada dos anos 60 e 70).
A questão da produção de ópio merece um breve exame, dadas as declarações bombásticas e confusas de intelectuais e analistas atlantistas. O ópio no Afeganistão tem sido usado por todos, sem distinção, para fazer dinheiro e financiar a economia de guerra. Ele foi utilizado pelos mujahedin durante a jihad anti-soviética (incluindo o aclamado Ahmad Shah Massoud); foi explorado pelo Talibã para se enriquecer através de pedágios para seu transporte; foi amplamente utilizado pelas famílias criminosas colocadas no poder pela coalizão ocidental em Cabul. Mesmo os projetos de erradicação das plantações de ópio em certas áreas do país coincidiram muitas vezes com o desejo de uma dessas famílias de atacar a concorrência. Quarenta anos de guerra ininterrupta também colocaram os agricultores em uma espécie de círculo vicioso onde eles são forçados a cultivar papoula por simples razões de sobrevivência e para escapar do risco de pobreza absoluta. Assim, a coalizão ocidental preferiu incentivar a produção de ópio em vez de ver as massas camponesas aumentar ainda mais as fileiras da resistência.
Neste ponto, outro estereótipo também deve ser refutado: aquele que descreve os Talibãs como traficantes de drogas. Como afirma o pesquisador Nico Piro, eles poderiam ser considerados mais como ‘facilitadores’ desse tráfico[5].
De fato, uma grande parte da fortuna do Talibã depende e dependeu de seu controle sobre o território e as principais vias de comunicação antes e depois da ocupação ocidental do país. As fontes mais importantes de autofinanciamento para o movimento Talibã, mesmo antes do ISI (o serviço secreto paquistanês) ter optado pelo apoio aberto, eram os pagamentos de pedágio para abrir as rotas do Afeganistão para o contrabando de e para a Ásia Central, ou para os portos do Paquistão. O apoio paquistanês ao Talibã, além de razões de natureza geopolítica primorosa (a estabilização anti-indiana do Afeganistão para garantir uma profundidade estratégica que não é permitida pela conformação geográfica “alongada” do Paquistão), também teve excelentes motivações econômicas. Nas intenções dos líderes político-militares paquistaneses, o ISI deveria ter, de alguma forma, substituído os grupos criminosos ligados ao contrabando baseado em Quetta e Peshawar, cuja hegemonia tem determinado historicamente enormes perdas financeiras para Islamabad (sobretudo, em termos de receitas alfandegárias), na proteção do Talibã. O jornalista paquistanês Ahmed Rashid escreve a este respeito: “A economia paralela no Paquistão aumentou de 15 bilhões de rupias em 1973 para 1115 bilhões de rupias em 1996 […] Durante o mesmo período, a evasão fiscal – incluindo a evasão alfandegária – de 1,5 bilhões de rupias atingiu um pico de 152 bilhões de rupias”[6].
Agora, o papel do ISI no apoio ao movimento Talibã precisa de mais esclarecimentos. Em primeiro lugar, é importante sublinhar que os serviços paquistaneses estão historicamente divididos em duas correntes: uma pró-EUA e uma pró-chinesa. Em setembro de 2001, os Estados Unidos forçaram o Paquistão de Musharraf a suspender todo o apoio financeiro e militar ao Talibã afegão. Na verdade, os EUA tentaram impor a Islamabad a inversão total de sua estratégia geopolítica de longo prazo, sob pena de um ataque norte-americano ao próprio Paquistão. Se é verdade que Musharraf capitulou rapidamente para proteger o programa nuclear paquistanês e não para facilitar as campanhas de difamação da Índia, que, por algum tempo, já vinha definindo o Paquistão como um país apoiador do terrorismo, é igualmente verdade que, apesar dos expurgos dos elementos pró-Talibã, o ISI continuou a apoiar o movimento dos estudantes corânicos. Em defesa parcial deste último, também deve ser dito que eles estavam dispostos a extraditar Osama Bin Laden, na condição de que fossem apresentadas provas claras de seu envolvimento nos atentados de 11 de setembro e que, no caso, ele seria julgado pelo tribunal de um país islâmico.
Hoje, após mais de vinte anos de humilhação (durante os quais o fantoche pró-Índia Hamid Karzai também foi colocado no leme do país), a vitória do Talibã representa um verdadeiro sucesso principalmente para o Paquistão. Como disse o vice-diretor da “Eurasia”, Stefano Vernole: “O projeto paquistanês prevê que, em troca de sua renúncia ao apoio ao terrorismo, uma coalizão internacional apoiará o Talibã, permitindo-lhes permanecer no leme do país com investimentos e reconhecimento. Além da Rússia e da China, com as quais Islamabad tem relações estreitas, a coalizão também incluiria o Irã, ao qual o Talibã teria prometido respeitar os direitos dos crentes xiitas no Afeganistão”.[7]
Não surpreendentemente, este sucesso em potencial no Paquistão já está sendo minado por grupos talibãs paquistaneses (aliados ao ISIS, ao contrário do Talibã afegão, e apoiados pelos serviços indianos) que recentemente intensificaram suas ações de sabotagem contra o corredor estratégico sino-paquistanês e contra delegações chinesas no próprio Paquistão.
Com relação ao reconhecimento potencial de um governo liderado pelo Talibã pelo Irã, também vale a pena lembrar que, apesar das relações extremamente complexas entre Teerã e Cabul na época do primeiro emirado no final dos anos 90 (devido à perseguição da etnia hazara, majoritária xiita), o General Qassem Soleimani reconheceu que o consenso de que o Talibã desfrutava entre grandes setores da população afegã tornaria o diálogo com essa força inevitável a longo prazo.
Portanto, resta saber em que linhas esse diálogo pode ser construído. Sem dúvida, o Talibã de hoje atingiu uma maturidade diplomática desconhecida para o movimento liderado há vinte anos pelo Mulá Omar. Neste contexto, no preciso conhecimento de que os Estados Unidos, apesar de sua retirada desordenada (concebida e decidida por Obama e Trump para se concentrar em teatros considerados mais importantes como o Mar do Sul da China), é pouco provável que deixem a Ásia Central (os homens ligados à CIA estão bem integrados no próprio movimento Talibã, bem como nos grupos que se opõem a ele, do sectário “Estado Islâmico” à Aliança do Norte), o papel da Rússia, da China, do Irã e do Paquistão só pode ser o de encorajar este diálogo para que o país não caia na espiral da violência e da desestabilização: de fato, aquilo pelo que trabalha Washington.
Fonte: Eurasia Rivista