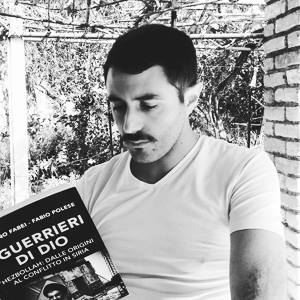O mais importante teórico do realismo e do decisionismo jurídico, o alemão Carl Schmitt, tem tido uma crescente popularidade. Mas não no Ocidente, onde ele ainda é demonizado pelos liberais e visto como “nazista”. A popularidade de Carl Schmitt, bem como sua influência intelectual, cresce na China, onde o alemão serve como base para a análise crítica do sistema internacional americanocêntrico imposto após a Segunda Guerra Mundial

“πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.”
“Guerra, de todas as coisas pai, de todas as coisas rei, de alguns faz deuses, de outros homens, de alguns servos, outros torna livres”.
(Heráclito, Fragmento 53)
Em carta datada de 1933, Martin Heidegger, parabenizando o jurista e compatriota Carl Schmitt pelo sucesso de seu trabalho O Conceito do Político, agora em sua terceira edição, parabenizou-o pela citação que este último fez do Fragmento 53 de Heráclito e pela correta interpretação que ele fez dos conceitos fundamentais de πόλεμος e βασιλεύς. Ao mesmo tempo, Heidegger não apenas revelou a Schmitt que estava preparando sua própria interpretação do fragmento de heraclítico diretamente interconectado com o conceito de ἀλήθεια, mas também que ele próprio estava passando por uma forma de “conflito”.
Tanto Heidegger quanto Schmitt estavam bem cientes de que o Soberbo de Éfeso, com o termo “conflito”, não queria indicar apenas e exclusivamente uma luta armada. Isto, de fato, deveria ser entendido também no sentido de conflito interno. Este πόλεμος, para Heidegger, não era outra coisa senão aquele “trabalho do ego” que o levou ao que ele mesmo definiu como uma “luta corpo a corpo com seu próprio eu”, a abandonar o ensino por vários anos, mas também a produzir posteriormente alguns trabalhos fundamentais, como o volumoso estudo sobre Nietzsche e os Holzwege[1].
A escolha de começar com o fragmento 53 de Heráclito para esta reflexão sobre a influência do pensamento de Carl Schmitt na China não é acidental. O conflito com o qual o pensador grego lida, e cuja essência Heidegger entendeu, pertence legitimamente à lista daqueles conceitos teológicos que, segundo Schmitt, foram “secularizados” pela doutrina moderna do Estado.
No contexto islâmico, como a revelação é tanto profecia quanto lei, o significado real do termo conflito usado por Heráclito aparece com toda sua força perturbadora no conceito teológico de jihad. Esta, devemos lembrar, significa literalmente “esforço” e indica o compromisso do homem de melhorar a si mesmo, de se tornar um ser humano “verdadeiro”, parafraseando a interpretação dada pelo Imã Khomeini[2].
A jihad, como relatado em um conhecido hadith do Profeta Maomé, pode ser de dois tipos: maior (ou interior) e menor (ou exterior). A jihad maior consiste na mencionada luta interior para se tornar um verdadeiro homem; enquanto a jihad menor efetivamente indica a luta armada contra um inimigo externo ao Dar al-Islam (casa do Islã). Portanto, contra alguém que está no dar al-harb (casa de guerra).
Este conceito pode ser encontrado na civilização tradicional chinesa. Para além das fronteiras imperiais, de fato, era o espaço dos “bárbaros”: uma região “não cultivada”, um reino de guerra e um espaço puramente quantitativo no qual as virtudes do jen (solidariedade de grupo) e do yi (equidade) não eram plenamente realizadas.
Nos termos da teoria geopolítica clássica, os conceitos de conflito interno e externo podem ser facilmente aplicados à idéia orgânica do Estado (uma entidade viva que é tanto moral quanto espiritual) desenvolvida por Friedrich Ratzel[3]. Assim, se o Estado é considerado como um organismo, seu conflito interno é seu esforço para se tornar uma entidade forte, unida e totalmente soberana, capaz de agir de forma independente e em pé de igualdade com outros atores internacionais em um teatro regional ou global. E é claro que este esforço interno representa o pré-requisito essencial para o externo e, em relação a este último, desempenha um papel primordial.
Agora, querendo transferir a idéia reconstruída até este ponto para a atualidade geopolítica da República Popular da China, parece evidente que os conceitos schmittianos de política como “conflito” e de oposição dicotômica amigo/ inimigo conheceram uma notável (e talvez até inconsciente) difusão em Pequim.
A política de “uma China” conduzida pela República Popular, de fato, se traduz abertamente em um esforço interno cujo objetivo é a realização de uma unidade nacional completa, não apenas em termos territoriais (restabelecimento da soberania sobre Taiwan, por exemplo), mas também em termos ideológicos, combatendo aquele “inimigo interno” que se apresenta sob as diferentes formas de separatismo apoiados pelo “Ocidente”: do modelo terrorista do Movimento Islâmico do Turquestão Oriental (não por acaso recentemente retirado da lista de organizações terroristas pelos Estados Unidos) à rebelião “sorosiana” em Hong Kong, até a influência exercida por seitas anti-tradicionais como Falun Gong, hoje revigorada pela aliança com o fenômeno QAnon.
O estudioso chinês Liu Xiaofeng (profundamente influenciado pelo próprio Schmitt), em sua coleção de ensaios Sino-Theology and the Philosophy of History, sublinha as diferenças existentes entre o conceito europeu de Estado-Nação e o substrato ideológico no qual o Estado chinês de hoje se desenvolveu. Os melhores pensadores políticos chineses, diz o professor da Universidade Renmin, perceberam perfeitamente que o imperialismo europeu moderno estava longe do antigo conceito de “Império” (mais parecido, em alguns aspectos, com o persa e o chinês). E eles perceberam que, nos tempos modernos, não havia apenas um imperialismo, mas várias formas conflitantes de imperialismo, uma para cada Estado-Nação[4].
Neste contexto, segundo o historiador e político Liang Qichao, que viveu na virada dos séculos XIX e XX, na época do declínio inexorável e da divisão imperialista do espaço chinês, a solução só poderia ser a criação de uma forma de nacionalismo chinês. Entretanto, o que Qichao via como nacionalismo era uma forma de consciência política e cultural nacional, mas não nacionalismo no sentido europeu da palavra. Este, de fato, permaneceu um conceito completamente estranho a uma forma imperial tradicional que ainda hoje, em sua expressão modernizada e influenciada pelo marxismo-leninismo, é mais semelhante ao modelo aquemênida do que à idéia européia do Estado-Nação e seus impulsos imperialistas. E, como tal, ela se apresentou desde sua origem como uma superação in nuce desta idéia.
A historiografia ocidental, através da chamada história global, tentou superar o sistema eurocêntrico baseado no Estado-Nação, substituindo-o por uma idéia de história voltada para a mudança das estruturas sociais. Liu Xiaofeng, ao contrário de alguns de seus colegas e compatriotas, teve o mérito de perceber que esta história global não nasceu com o ensaio de William H. McNeill de 1963, The rise of the West. A history of the human community[6]. Ele também entendeu que o desejo de superar o eurocentrismo simplesmente resultou em uma forma bastante paradoxal de cosmopolitismo que esconde um imperialismo natural de matriz anglo-americana (aquele que saiu vitorioso do choque com as outras formas do imperialismo europeu). Este cosmopolitismo, de fato, continua a considerar o cânone “ocidental”, inspirado nos valores do liberal-capitalismo, como o melhor modelo absoluto. No entanto, olha para outros modelos com a benevolência devida ao bom selvagem a ser estudado antropologicamente e, talvez, a ser educado (mesmo que por meio de “bombardeios humanitários”) para emancipá-lo de si mesmo.
Portanto, a global history não tem sido senão a superestrutura historiográfica do liberalismo ocidental no período da Guerra Fria e no instante unipolar.
Bem antes do ensaio de McNeill, como Xiaofeng nos lembra novamente, Carl Schmitt publicou O Nomos da Terra, uma obra que, ao invés de subverter o agora defunto eurocentrismo, percebeu plenamente que ele já havia sido substituído por um sistema americanocêntrico[7]. Mas Schmitt, ao contrário dos profetas da global history, ainda usava um modelo historiográfico centrado em entidades estatais. A percepção fundamental de Schmitt era a compreensão de que o choque entre os Estados ainda permaneceria freqüente e intenso independentemente do mito cosmopolita da cidadania global e que ele se tornaria até mesmo extremo.
Schmitt, de fato, entendeu que a criação e o crescimento/desenvolvimento dos Estados Unidos ocorreu num contexto em que o jus publicum europaeum (aquele que regulava a guerra entre as monarquias cristãs européias no solo do Velho Continente) não tinha nenhum valor.
Os Estados Unidos nasceram em um “espaço livre” onde a lei do mais forte do estado da natureza estava em vigor e contra o fundo ideológico-religioso do tema bíblico do Êxodo e da convicção messiânica da construção do “Novo Israel” e da “Jerusalém na terra”: princípios que estão na base da idéia puritana de superioridade moral e predestinação e representam os fundamentos existenciais do americanismo. Os Estados Unidos nasceram em total oposição ao modelo europeu. Sua entrada no Velho Continente marcou a passagem da guerra “legal” para a guerra “ideológica”: o inimigo não só deve ser derrotado, mas demonizado, criminalizado e, portanto, aniquilado. O que os Estados Unidos fizeram foi trazer de volta à Europa a lei do mais forte, considerando-a, como os europeus fizeram com o hemisfério ocidental na era moderna, um “espaço livre” a ser submetido à mera conquista.
Xiaofeng aplica estas idéias schmittianas à situação geopolítica atual no Extremo Oriente e na China em particular. A China, em um momento em que a “luta interior” acima mencionada ainda não havia levado à formação de um Estado forte e totalmente soberano que lhe permitisse uma participação plena (e justa) na comunidade internacional, teve que optar por um tipo de acesso “técnico” ao sistema, através da entrada em instituições internacionais. Este método se opunha ao método puramente político-militar utilizado pelo Japão na virada dos séculos XIX e XX, quando o processo de modernização endógena realizado pelo Império permitiu que ele se afirmasse como uma potência global.
Entretanto, o erro fundamental da classe política chinesa na primeira metade do século XX foi acreditar que o direito internacional se aplicava com equidade a todos os membros da comunidade que aceitavam suas normas. Xiaofeng lembra que Chiang Kai-Shek permaneceu firmemente convencido, apesar do aviso do conselheiro militar alemão Alexander von Falkenhausen, de que as potências européias (França e Grã-Bretanha) e os Estados Unidos viriam em socorro da China em face da agressão japonesa no final da década de 1930[8]. Obviamente, nada disso aconteceu, e somente com o início da Segunda Guerra Mundial e a entrada dos Estados Unidos no conflito, a situação começou a mudar.
A verdadeira natureza do direito internacional foi bem descrita ao delegado na URSS da então República da China, Chiang Ching-Kuo, por Josef Stálin. O Vozhd’, muito francamente, disse-lhe: “todos os tratados são desperdício de papel, o que conta é a força”[9].
De fato, o método “técnico” descrito por Xiaofeng, através do qual a China tentou inicialmente garantir a si mesma uma participação no sistema de relações internacionais, não lhe permitiu alcançar plenamente um equilíbrio de poder com as potências européias ou com os Estados Unidos. Foi somente com a Revolução Maoísta e com a vitória na Guerra da Coréia que a possibilidade deste objetivo começou a se tornar aparente.
Agora, é bom lembrar que os Estados Unidos têm historicamente aplicado à China, antes e depois de Mao (e embora em fases alternadas), uma estratégia chamada “open door policy”. No período unipolar, esta política estratégica tomou a forma de uma espécie de entendimento (teoricamente perfeito) segundo o qual a China, exportadora de bens e importadora de liquidez, se encarregava dos títulos de dívida americanos, enquanto os Estados Unidos, consumidor e devedor, podiam contar com uma supremacia militar duradoura, concentrando-se em uma nova revolução tecnológica, para a qual a concorrência chinesa não era sequer levada em consideração. Como diz o historiador Aldo Giannuli: “Na visão neoliberal, a abertura global dos mercados deveria ter feito da China o principal centro manufatureiro do sistema global, mas com a condição de que a brecha tecnológica permanecesse constante, se não aumentada, e que a balança comercial não se inclinasse muito para o Oriente”[10].
Entretanto, com a crise de 2008, este entendimento rapidamente rachou e se deteriorou já sob a administração Obama, que, numa tentativa se apressar a fazer controle de danos, optou pela estratégia geopolítica do Pivot to Asia em relação à rápida mudança do centro do comércio global para o Extremo Oriente. Uma estratégia que a administração Trump tentou levar a seus extremos através de uma constante militarização dos mares adjacentes às costas da China e incentivando operações de sabotagem ao longo das rotas da Nova Rota da Seda.
O erro de cálculo norte-americano, portanto, tem uma origem muito mais distante do que o que é constantemente proposto nas análises geopolíticas de hoje. Com a travessia do rio Yalu e a entrada de voluntários chineses na Coréia, Pequim já havia enviado um sinal bastante claro aos Estados Unidos: você não é bem-vindo além do paralelo 38. Com as reformas e políticas de abertura de Deng Xiaoping no início dos anos 80 e o fracasso da revolta da Praça Tiananmen, Pequim enviou outro sinal aos EUA: a China não é mais um “espaço livre” onde se pode operar à vontade (como fez Washington na Europa) ou divisível através de meios econômicos e políticas de infiltração cultural.
A rápida ascensão chinesa fora do “contexto liberal” e em virtude de um sistema “iliberal”, profundamente estatista e bem delineado também no novo plano quinquenal do PCC centrado no princípio da dupla circulação (demanda interna/demanda externa), enviou um novo sinal: o fim do sistema global americanocêntrico se aproxima.
O acordo de livre comércio RCEP – Regional Comprehensive Economic Partnership – é a primeira pedra para a construção de uma esfera de cooperação asiática livre da presença desestabilizadora norte-americana.
É evidente que tal eventualidade não será aceita de bom grado pelos Estados Unidos. Mas hoje Pequim, schmittianamente consciente da necessidade de um Estado forte também em termos de homogeneidade ideológica e objetivos, está bem preparada também para a luta contra o inimigo externo.
Notas
[1]O autor abordou este tema no livro Essere e Rivoluzione. Ontologia heideggeriana e politica di liberazione, NovaEuropa, Milano 2018.
[2]Ver R. Khomeini, La più grande lotta. Per liberarsi dalla prigione dell’ego ed ascendere verso Dio, Irfan Edizioni, Roma 2008.
[3]Ver, F. Ratzel, Lo Stato come organismo, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici” 3/2018.
[4]L. Xiaofeng, Sino-Theology and the philosophy of history. A collection of essays by Liu Xiaofeng, Brill, Boston 2015, p. 99.
[5]Ibidem.
[6]L. Xiaofeng, New China and the end of the international American law, www.americanaffairsjournal.org.
[7]Ver C. Schmitt, Il nomos della terra, Adelphi Edizioni, Milano 1991.
[8]New China and the end of the international American law, ivi cit.[9]Ibidem.
[10]A. Giannuli, Coronavirus. Globalizzazione e servizi segreti, Ponte alle Grazie, Milano 2020, p. 236.
Fonte: Eurasia Rivista