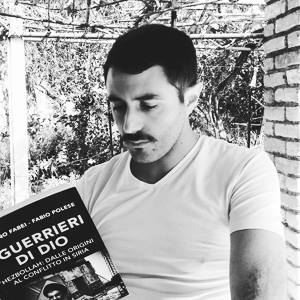A operação especial militar russa na Ucrânia lançou o Ocidente atlantista em uma espiral de caos, com a exposição da fraqueza militar europeia, a revelação da dependência europeia das importações energéticas russas e o que é pior: uma crise alimentar que pode matar milhões ao redor do mundo.


No início de junho, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (“think tank” muito próximo ao Pentágono e à indústria de armas dos EUA, pela qual é copiosamente financiado) publicou um artigo (intitulado “O impacto a longo prazo do conflito na Ucrânia e a crescente importância do lado civil da guerra”) que descreve bem uma certa mudança de paradigma na abordagem norte-americana do conflito na Europa Oriental. Nele se lê: “Parece agora muito possível que a Ucrânia não recupere seu território no leste, não obtenha os níveis de ajuda necessários para reconstruir rapidamente, enfrente ameaças contínuas da Rússia no leste que limitarão sua capacidade de recriar uma área industrializada, e enfrente grandes problemas em termos de comércio marítimo”.[1]
No preciso conhecimento do fato de que muito poucos dentro da administração dos EUA estavam convencidos da possibilidade real de uma “vitória total” da Ucrânia no conflito (o objetivo sempre foi prolongá-lo indefinidamente, “lutar até o último ucraniano”, como Franco Cardini apontou), No entanto, o artigo mostra uma retórica oficial decidida, se considerarmos que ele também afirma que apenas uma “pequena parte” dos ataques realizados pelos russos em solo ucraniano pode ser formalmente definida como crimes de guerra.
De fato, décadas de lucubrações (em muitos casos fins em si mesmas) sobre a chamada “guerra híbrida” (produzidas também na própria Rússia, pense-se na “Doutrina Gerasimov”) turvaram a mente dos “estrategistas” e “analistas” ocidentais que ficaram despreparados para uma nova guerra convencional travada através do uso coordenado (e em larga escala) de meios militares, políticos e econômicos. E no qual o terrorismo informativo e a manipulação psicocognitiva afetaram principalmente o lado ocidental não diretamente beligerante, onde a mídia optou conscientemente por explorar a “tragédia”, separando-a de suas causas, de modo a reverter a responsabilidade por ela no espaço e no tempo.
Em particular, deixando de lado as análises improvisadas que já no final de fevereiro mostravam que a Rússia havia caído em uma armadilha e que a estratégia dos EUA estava vencendo em toda a linha, poucos perceberam imediatamente o nível global do conflito: em outras palavras, as profundas mudanças que o confronto estava provocando rapidamente na estrutura econômica, financeira e geopolítica mundial existente e a igualmente profunda crise na qual estava (e está) mergulhando o Ocidente (especialmente seu componente europeu) econômica e militarmente.
É precisamente a Europa, em vez de reagir histericamente, que deveria ter mantido a capacidade necessária de análise político-militar dos acontecimentos, de modo a limitar imediatamente os danos e frear um conflito cujo prolongamento está aumentando a cada dia seus efeitos devastadores sobre a segurança e a economia do continente. Na verdade, parafraseando Carl Schmitt, ela é inspirada pela principal potência antieuropeia da história contemporânea: os Estados Unidos da América. Tal conflito, independentemente de seu resultado, exige uma reformulação total (ou melhor, uma reestruturação) das forças militares e exércitos das nações europeias individuais, que foram reduzidas à metade no final da Guerra Fria e aproveitadas dentro da aliança desigual que dá pelo nome de OTAN: um instrumento que (para Washington) teve o “mérito” de transformar a possível ameaça soviética de retaliação nuclear contra os Estados Unidos na inevitável certeza de uma guerra de devastação nuclear e convencional na Europa.
Este discurso, entretanto, requer primeiro uma análise dos eventos da guerra ucraniana dos últimos meses. A penetração inicial das forças russas ao longo das fronteiras norte e leste da antiga república soviética havia criado uma frente de mais de 1.500 km (muito longa em relação ao número de tropas inicialmente destacadas por Moscou, cerca de 150.000 mais 50.000 soldados das repúblicas separatistas). Isto se reduziu pela metade após a retirada russa das áreas de Kiev, Cernihiv e Sumy com a consecutiva concentração de forças no Donbass (cuja “libertação” continua sendo o objetivo declarado) e nas áreas de Kherson, Mikolayv, Melitopol e Zaporizhzhia. A Ucrânia, por sua vez, foi capaz de destacar 250.000 homens entre as forças regulares, a Guarda Nacional e as milícias internas embutidas (infames pelos crimes de guerra cometidos nos oito anos do conflito anterior)[2]. A eles se juntaram cerca de 7.000 mercenários estrangeiros (principalmente franceses, poloneses, georgianos, canadenses e norte-americanos, a maioria deles bem treinados e retornando de outros teatros de guerra). Segundo fontes militares russas, 2.000 desses “combatentes internacionais” caíram em combate, enquanto outros 2.000 abandonaram a frente, reclamando da violência excessiva da luta[3].
Agora, deve ficar claro desde o início que, em termos de números e meios empregados, este conflito (apesar dos limites autoimpostos por Moscou no controle do espaço aéreo e da utilização, em sua maioria, de veículos ultrapassados) não é comparável nem às guerras dos Balcãs (com exceção dos 78 dias de bombardeio da OTAN na Sérvia) nem às guerras ocidentais no Iraque e no Afeganistão, nem à agressão contra a Líbia. Entre março e abril de 2003, a “coalizão dos dispostos”, por exemplo, enfrentou um exército iraquiano em desordem após mais de uma década de um regime de sanções. E tais guerras podem ser categorizadas dentro da estrutura de “confrontos assimétricos”, nos quais a maioria das operações militares são de natureza anti-insurgente (incluindo grandes campanhas como em Falluja no Iraque, onde 15.000 anglo-americanos conseguiram com grande dificuldade, e muito provavelmente através do uso de armas de fósforo, levar a melhor sobre 4.000 insurgentes).
Em 17 de junho, o Ministério da Defesa em Kiev admitiu que a Ucrânia teria perdido cerca de 50% de sua capacidade militar total (a porcentagem é provavelmente maior). Na mesma época, primeiro o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e depois seu assessor David Arakhamia declararam, respectivamente, que as vítimas ucranianas são 100 e depois 1000 por dia.
É muito difícil saber se estes números são reais ou o resultado de propaganda e da necessidade premente de novas ajudas ocidentais. Entretanto, eles destacam o fato de que um volume tão alto de perdas (como já tentamos demonstrar no artigo anterior Guerra Demográfica e Econômica) é, de qualquer forma, insustentável para Kiev a longo prazo. Especialmente à luz do fato de que algumas divisões do exército ucraniano, deixadas sem ordens e apoio logístico na área (hostil) de Severodonetsk, teriam sofrido perdas que atingiriam 90% de seu pessoal.
Os serviços de inteligência britânicos e norte-americanos falam de mais de 15.000 baixas no campo russo (mais ou menos o mesmo que dez anos de guerra no Afeganistão nos anos 80). Kiev afirma ter neutralizado 33.600 soldados inimigos. O volume real de perdas em ambos os lados não pode ser estabelecido com certeza[4]. Como afirmou a analista Gianandrea Gaiani, mesmo que as baixas russas fossem metade (7.500), ainda seria um número alto pelos padrões ocidentais atuais (não para um modelo convencional de guerra). De fato, é preciso ter em mente que os principais exércitos europeus (França, Alemanha e Itália), reduzidos em número mas com um alto conteúdo tecnológico, têm em média cerca de 80.000 pessoas e um número limitado de veículos blindados e aeronaves. Além disso, o exército italiano tem uma idade média entre os voluntários em serviço permanente de 39,8 anos, sendo que mais de 57% deles têm mais de 40 anos[5]. No caso de um conflito convencional no qual eles tivessem que rotacionar tropas na linha de frente, nenhum desses exércitos seria capaz de destacar mais de 15.000 homens em batalha de cada vez com uma resiliência limitada a algumas semanas no caso de altas taxas de baixas e uso intensivo de munições. Em particular, nenhum exército europeu parece estar preparado para um conflito travado principalmente na dimensão terrestre, o decisivo quando em jogo é a busca (como no caso russo) de um espaço vital (ou espaço de segurança) negado em sua totalidade (tanto física quanto virtualmente) pelo Ocidente. É por isso que o “bloqueio” de Kaliningrado, mesmo se estrategicamente estudado como instrumento de pressão nas negociações, acaba sendo não pouco arriscado, especialmente à luz do desrespeito aos acordos de trânsito entre o enclave e o resto do território russo, elaborados por Moscou e Bruxelas no início dos anos 2000.
Isso deve explicar a relutância mal disfarçada de muitos governos europeus em declarar abertamente a quantidade e as características da ajuda militar enviada à Ucrânia (talvez mais limitada do que se poderia pensar), enquanto que, ao contrário, o Departamento de Defesa dos EUA optou por publicar em detalhes o valor e a quantidade de cada item específico enviado. O site de informática do governo norte-americano afirma que, desde 24 de fevereiro, os EUA forneceram US$ 5,6 bilhões em ajuda militar à Ucrânia (US$ 8,6 ‘investidos’ no total desde 2014). Suprimentos que incluem: 1400 sistemas de defesa aérea Stinger, 6500 mísseis Javelin antitanque, 126 obuses M777, drones táticos Puma, 20 helicópteros Mi-17 (16 dos quais estavam na posse da Força Aérea Afegã), 7000 armas pequenas e 50 milhões de munições, mais de 700 munições em circuito[6].
Entretanto, em parte devido à mudança de paradigma acima mencionada, foi decidido não enviar “armas ofensivas”, como os drones Grey Eagle, devido ao (muito alto) risco de que sua tecnologia sofisticada caísse nas mãos dos russos.
Se os dados militares não sorriem para a Europa, o econômico é dramático. Especificamente, o problema do fornecimento de energia (com preços sempre crescentes) levará a uma crise econômica estrutural da qual será muito difícil escapar, considerando que tentativas desesperadas de diversificação não terão impacto a curto prazo. A própria ideia de poder contar imediatamente com o GNL norte-americano, em um momento em que a Gazprom está cortando o abastecimento como resposta ao regime de sanções, parece ter sido cortada na raiz após um misterioso acidente (para deleite do mercado doméstico norte-americano) que derrubou o terminal de GNL Freeport no Texas, de onde partem os navios-tanque que traziam gás liquefeito para a Europa[7].
Além disso, o regime de sanções praticamente autoimposto da UE minou o chamado Green Deal e a suposta transição para uma economia com emissões zero até 2050[8]. Tal abordagem requer recursos e investimentos consideráveis para desenvolver novas tecnologias e realizar uma verdadeira reestruturação energética. Recursos que, no momento, não estão mais disponíveis, já que o custo cada vez mais elevado da energia está reduzindo drasticamente a competitividade das economias europeias em escala global. O Green Deal inevitavelmente inclui o desenvolvimento de infraestrutura para o armazenamento e transporte de energia renovável. Além disso, os materiais para a produção de tecnologia de energia renovável (painéis solares, baterias de armazenamento, veículos elétricos) são feitos de metais raros (cobalto, níquel, manganês, lítio) que a UE importa e nos quais a Rússia detém grandes quotas de mercado com a relativa capacidade de influenciar seu desenvolvimento. Moscou é o segundo maior produtor mundial de cobalto e o terceiro maior produtor de níquel. O principal produtor europeu de manganês é a Ucrânia (oitavo no mundo), embora esta produção esteja concentrada no agora perdido Donbass. Finalmente, a China controla 46% da produção mundial de lítio. Além disso, o uso do GNL norte-americano (mais caro para o consumidor final) e produzido através de fraturamento hidráulico, além de levar tempo para construir novos terminais e consumir energia considerável para o processo de transformação, também é “ecologicamente hostil”.
Neste contexto, embora Bruxelas tente falar a uma só voz, os interesses de país para país continuam sendo diferentes, assim como as respectivas fontes de energia. A Alemanha e a Itália são altamente dependentes do gás; a França depende fortemente da energia nuclear; países menores como a Grécia, Chipre e Malta dependem do petróleo.
40% das importações de gás europeu vêm da Rússia, 18% da Noruega, 11% da Argélia e 4,6% do Qatar. 30% dos combustíveis fósseis vêm da Rússia[9]. A substituição do abastecimento energético russo só é concebível a longo prazo e, a curto prazo, o alto preço dos recursos poderia levar a problemas econômicos e sociais, mesmo para países que não importam diretamente de Moscou.
A chamada “crise do trigo” também merece algumas considerações finais. A este respeito, vale reiterar que o bloqueio do trigo ucraniano não representa um problema irremediável em nível global. De acordo com dados da FAO, o trigo ucraniano representa 3,2% da produção mundial. A Ucrânia foi o oitavo maior produtor mundial em 2021, com 25 milhões de toneladas por ano. O maior produtor mundial é a China (134 milhões), seguido pela Índia (108) e Rússia (86, o maior exportador do mundo). Deve-se observar que a UE como um todo seria o segundo maior produtor mundial, com 127 milhões de toneladas. Portanto, esta crise teoricamente não afetaria a Europa de forma alguma.
Os aumentos de preço (antes do conflito) não são proporcionais à escassez de matéria-prima, mas são o resultado de uma expectativa futura, o produto dos chamados contratos “derivados”. As partes que nada têm a ver com trigo (fora do circuito de produção), na verdade, utilizam títulos derivados para mera especulação (por exemplo, compram-nos a 30 e revendem-nos a 40). Uma prática que até os anos 90 foi proibida neste tipo de mercadoria pela Organização Mundial do Comércio. Entretanto, a posterior liberalização total do setor permitiu o uso desses instrumentos de especulação financeira. Como disse o Prof. Alessandro Volpi: “O mercado de grãos, como o mercado de energia, vive de uma expectativa de tendências, com apostas reais determinando o preço. Se houver um conflito, se todos os dias nos lembrarmos que o trigo ucraniano está bloqueado, se novas restrições de produção forem anunciadas, as apostas serão no lado positivo de que os preços tenderão a subir”[10].
A crise alimentar, portanto, está desconectada do curso do conflito. Já em 2021 havia 44 países que sofriam de escassez alimentar (33 na África e 11 na Ásia)[11]. O aumento dos preços da energia, dos combustíveis e dos grãos e a especulação associada simplesmente piorou uma situação já problemática, que levará mais de 440 milhões de pessoas a passar fome nos próximos meses, com o corolário de migrações descontroladas e a possível reabertura da “frente” dos OGMs na Europa e no mundo (não é coincidência que as multinacionais que produzem sementes geneticamente modificadas sejam as mesmas que produzem herbicidas à base de glifosato).
Acrescente-se a isso o fato de que um possível acordo entre a Rússia e a Turquia sobre a desminagem dos portos ucranianos (apesar dos temores de Kiev) e sobre o trânsito de navios mercantes no Mar Negro cortará do “jogo da comida” aquelas forças que pensavam poder usá-lo como arma de pressão humanitária contra Moscou.
Fonte: Eurasia Rivista