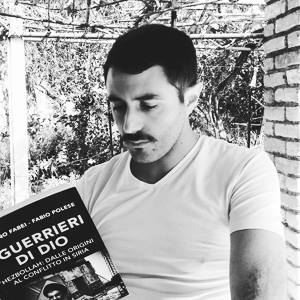As diferenças entre o Ocidente atlantista e as potências telurocráticas são tão profundas que alcançam até mesmo elementos básicos da ciência geopolítica. Em geral, todas as ações ocidentais visam, simplesmente, como resultado último, promover a financeirização da economia e a submissão da política à economia financeirizada. Isso se aplica até ao caso ucraniano. Rússia e China, por outro lado, operam com outras concepções e utilizam a geopolítica para outros fins.

O teórico chinês Wang Huning foi um dos primeiros a argumentar que, para entender a estratégia nacional americana, é preciso primeiro entender o jeito americano de ser nação: isto é, olhar de perto seu modo de vida antes de dar credibilidade ao que aparece nas publicações “geopolíticas” de seus think-tanks.[1]
Huning, durante sua estadia nos Estados Unidos na segunda metade dos anos 80, chegou à conclusão de que a fundação do estilo de vida americano é a ideia de riqueza ou prosperidade. Esta prosperidade (aparente ou real) só é mantida através do fluxo contínuo de capital internacional para os cofres americanos. E, para que este fluxo de capital permaneça constante, é necessário que a posição hegemônica do dólar não seja prejudicada de forma alguma. Esta é a verdadeira fonte de poder que mantém os EUA fortes e prósperos por enquanto.
Isto, naturalmente, suscita a pergunta: como foi possível alcançar tal posição? A resposta pode ser encontrada na história contemporânea. No início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eram um dos países mais endividados do mundo. Ao final do conflito, porém, os Estados Unidos eram um credor global. Em 1917, a Entente recebeu de Washington uma linha de crédito de 2,3 bilhões de dólares. Durante o mesmo período, a Alemanha, derrotada na Batalha da Jutlândia (1916) e já sujeita a um bloqueio naval britânico, recebeu pouco mais de 27 milhões de marcos em ajuda estrangeira.
De fato, os Estados Unidos foram dos primeiros a entender a guerra exclusivamente como um empreendimento econômico, em uma época em que os impérios tradicionais europeus, ainda convencidos de que a vitória seria determinada única e exclusivamente pela força dos exércitos no campo (o que só era possível no caso da “blitzkrieg”), haviam se tornado incompatíveis com a base econômica do capitalismo. A Primeira Guerra Mundial, portanto, foi também o primeiro conflito em que o fluxo de capital desempenhou um papel mais importante do que o fluxo de sangue no sentido literal do termo. Os próprios Estados Unidos só intervieram quando havia a certeza de que não haveria diferença substancial entre os vencedores e os vencidos (ambos saíram do conflito com ossos quebrados). Isto porque o verdadeiro objetivo era destituir a Grã-Bretanha de seu papel de potência hegemônica talassocrática em nível global. Este objetivo só seria alcançado após a Segunda Guerra Mundial e após a própria Grã-Bretanha (graças ao que talvez seja erroneamente definido como um grande político e estrategista, Winston Churchill) ter contribuído de forma decisiva para seu suicídio e para o suicídio da Europa.
15 de agosto de 1971 é outra data chave na história contemporânea e, sobretudo, para os propósitos desta análise. Naquele dia, o Presidente Richard Nixon anunciou o fechamento da chamada “janela dourada”, quebrando a ligação entre o dólar e o ouro e traindo o sistema criado em Bretton Woods. Desde essa data, os Estados Unidos ganharam o poder teórico de imprimir dólares à vontade. Não somente isso, após o conflito árabe-israelense de 1973 e um acordo com a OPEP, os Estados Unidos ancoraram o dólar no comércio mundial de petróleo, transformando sua moeda na única moeda para o acordo internacional do comércio de petróleo. Ao fazer isso, eles impuseram ao mundo o princípio de que você precisa de dólares para comprar petróleo. Portanto, se um país precisa de petróleo, ele também precisa de dólares para comprá-lo. A globalização econômica, neste sentido, foi o resultado inevitável da globalização do dólar.
Neste sentido, os Estados Unidos, diz o General Qiao Liang, ex-Exército de Libertação Popular, criaram a primeira “civilização financeira” ao transformar todas as moedas do mundo em acessórias ao dólar[2]. Além disso, desde a década de 1970, eles vêm transferindo indústrias de baixo e médio nível para países em desenvolvimento (favorecendo o consumo do meio ambiente e dos recursos), mantendo apenas aquelas com alto valor agregado em termos de tecnologia. Os efeitos nocivos dessas políticas se refletiram na própria economia dos EUA quando a crise de 2007 destacou sua natureza exclusivamente “virtual” diante da aniquilação do setor manufatureiro. Uma tendência que tanto as administrações Obama como Trump tentaram (e falharam em) contrabalançar. Consequentemente, a sorte dos Estados Unidos estará, por muito tempo, baseada na capacidade de Washington de concentrar o fluxo de capital internacional em seu território, gerando crises geopolíticas e eliminando potenciais concorrentes.
Em outras palavras, os EUA criaram um “império vazio” totalmente parasitário (em 2001, 70% da população americana trabalhava no setor financeiro e de serviços relacionados) com base na produção de dólares, enquanto o resto do mundo produz os bens que são trocados por dólares. A “globalização”, diz Qiao Liang, “nada mais é do que uma moda financeira mantida refém do dólar norte-americano”[3].
No artigo O Inimigo da Europa, foi feita ampla referência à guerra do Kosovo como um “conflito americano no coração da Europa” com o objetivo de poluir o clima de investimento no Velho Continente e cortar a raiz de um rival potencialmente perigoso: o euro. De fato, antes da guerra do Kosovo, reporta ainda o ex-general chinês, 700 bilhões de dólares vagueavam pela Europa, sem nenhum lugar para investir[4]. Uma vez que a guerra começou com o apoio dos governos colaboracionistas europeus (o italiano em particular), 400 bilhões de dólares foram imediatamente retirados do solo europeu. 200 bilhões voltaram diretamente para os Estados Unidos. Outros 200 bilhões foram para Hong Kong, onde alguns especuladores em ascensão pretendiam usar a cidade como trampolim para acessar o mercado chinês continental. Naquele preciso momento, veio o bombardeio “acidental” da embaixada chinesa em Belgrado por “mísseis inteligentes” da OTAN. O resultado final: todos os 400 bilhões fluíram para os cofres americanos.
Em novembro de 2000, Saddam Hussein anunciou que as exportações iraquianas de petróleo seriam regulamentadas em euros. O primeiro decreto do governo iraquiano estabelecido por (e sob) bombas dos EUA estipulou o retorno imediato ao uso do dólar para o comércio de petróleo bruto.
O mesmo argumento pode ser facilmente aplicado à crise ucraniana de 2014, que eclodiu numa época em que os EUA (como hoje) não queriam de forma alguma que o capital permanecesse ou fosse investido na Europa. A melhor maneira de evitar isto era criar uma crise regional. Uma crise que também forçava a Europa a se juntar aos Estados Unidos na imposição de sanções à Rússia.
Até hoje, o único país que tem contrariado este jogo norte-americano ao tentar interceptar o fluxo de capital é a China. Isto deve explicar de alguma forma porque houve uma intensificação substancial das crises regionais em torno do gigante asiático, de Hong Kong a Taiwan.
Entretanto, a atual escalada da crise ucraniana também exige outro tipo de reflexão. De fato, independentemente da vontade ocidental de exacerbar a crise tanto quanto possível através de provocações (e operações de “falsa bandeira”), propaganda e descumprimento dos acordos de Minsk, estamos testemunhando o confronto de dois modelos opostos de interpretação da ciência geopolítica. No já mencionado artigo O Inimigo da Europa, foi feita referência ao uso de crises geopolíticas pelos Estados Unidos como instrumentos subordinados à política monetária. Portanto, no caso ucraniano estamos diante de um duplo nível de manipulação: geográfica/ideológica e financeira. A crise geopolítica não só tem a tarefa (oculta) de fazer fluir o capital para Washington enfraquecendo a recuperação econômica da Europa pós-pandêmica, mas também é usada como uma ferramenta para manter a Europa em condição de “cativeiro geopolítico” dentro da invenção geográfica/ideológica do Ocidente.
Agora, observando que a implementação das estratégias globais das grandes potências depende sempre da força (foi Stálin quem declarou que “todos os tratados são desperdício de papel, o que conta é a força”), será necessário fazer uma distinção entre um modelo de geopolítica subordinada às finanças (não se deve esquecer que a queda de um avião russo graças aos sistemas da OTAN na Turquia também levou a uma fuga de capital de Moscou e Ancara em 2015) e um modelo clássico ou tradicional que (voluntariamente ou não) ainda está ligado à ideia de Élisée Reclus de que a geografia nada mais é do que história no espaço[5] e à noção de lebensraum desenvolvida por Friedrich Ratzel.
Este conceito merece uma breve elaboração, dada a má interpretação a que foi submetido para apresentar a geopolítica como uma espécie de pseudociência nazista (uma operação que já faz pouco sentido considerando que Ratzel morreu em 1904). O lebensraum (espaço vital) está profundamente ligado à relação entre homem/pessoa e solo/espaço. O espaço vital, na teoria de Ratzel, desenvolve-se ao longo de duas linhas de crescimento (wachstum) que incluem todos os fenômenos detectáveis no espaço: um crescimento vertical e um horizontal. Os fenômenos são os sinais vitais da conexão entre o homem e o solo: campos cultivados, mas também lugares de culto, escolas, obras de arte e indústrias. Esta conexão gera a ideia política, a cola espiritual do estado e a mais alta expressão do crescimento vertical: ou seja, do próprio estado como um organismo espiritual. O crescimento horizontal, por outro lado, está ligado à expansão militar pura e ao estado como um organismo biológico. No entanto, esta expansão deve seguir os fenômenos no território, no sentido de preferir aquela direção que permite uma maior continuidade entre o centro e a periferia[6]. É evidente que tal elaboração teórica se traduz diretamente em uma condenação do imperialismo moderno, que não conhece fronteiras, mas apenas e exclusivamente cinturões de segurança.
A geopolítica subordinada às finanças, de fato, não se baseia na salvaguarda do limes, mas no controle e gestão dos fluxos de capital (mesmo através do recurso à força militar para manipulá-los) como meio de controlar o fluxo de recursos através de junções geopolíticas (por exemplo, o Canal de Suez ou o Estreito de Malaca). A geopolítica clássica, ao contrário, se baseia no controle logístico do vizinho imediato como espaço para a projeção de influência. Neste sentido, por exemplo, pode-se interpretar a colonização grega do espaço ao redor do Mar Negro (que era crucial para o acesso aos grãos produzidos por citas e sármatas) na Antiguidade[7].
Hoje, a anexação russa da Crimeia (depois de ter sido incluída dentro das fronteiras ucranianas somente nos anos 50), além daquela lei internacional que muitas vezes é interpretada sempre em benefício do poder hegemônico que a criou, pode e deve ser interpretada também em um sentido tradicional. Evitar que este posto avançado (após a progressiva redução do espaço de manobra após o colapso da URSS) acabe sob o controle da OTAN tem tanto um sentido puramente estratégico quanto um valor em termos de conexão espiritual entre a terra e as pessoas e, portanto, de reafirmação do espaço vital russo. A Rússia também precisa transportar seus recursos naturais para o mercado e promover sua economia. O corte de gasodutos e oleodutos (o que os EUA estão tentando fazer através da própria crise ucraniana), portanto, teria (e tem) um impacto não apenas na economia russa, mas também (e talvez até mais decisivamente) no destinatário final: a Europa Ocidental[8].
Aqui também entra em jogo outra consideração. O reconhecimento russo das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (por si só não é questionável por aqueles que, por exemplo, criaram Kosovo ou Sudão do Sul do nada por mero oportunismo geopolítico) tem um duplo valor. Isto está ligado tanto ao discurso anterior sobre a reafirmação do espaço vital russo (e como a conclusão de um processo iniciado em 2014 após o golpe atlantista em Kiev), quanto a um projeto mais amplo de aceleração para a reconstrução da ordem global. Parece claro que a escolha russa também se impõe como um desafio aberto ao modelo unipolar. O Kremlin, de fato, num momento em que a cooperação eurasiática está sendo constantemente reforçada (graças sobretudo ao trabalho diplomático da China e do Irã), mostra que não tem medo de um novo regime de sanções (o principal instrumento da unipolaridade) que, como já previsto (e apesar dos tímidos esforços do presidente francês Emmanuel Macron para salvar o Velho Continente do aperto do laço atlântico), seria em detrimento sobretudo do único verdadeiro perdedor nesta crise: uma Europa incapaz de salvaguardar seus próprios interesses e de se tornar um pólo autônomo e independente.
A este respeito, uma consideração final é necessária para todos aqueles na Europa Ocidental que olham para a Rússia com esperança excessiva. Embora a Rússia seja um exemplo de oposição à idéia unipolar, ela naturalmente persegue seu próprio interesse nacional. Não será a Rússia (também muito paciente a este respeito) que salvará a Europa. Entretanto, no caso da Ucrânia, Moscou tem o mérito de confrontar a Europa com um fato consumado e destacar ainda mais o papel nefasto da Aliança Atlântica como um instrumento de coerção do Velho Continente.
Fonte: Eurasia Rivista