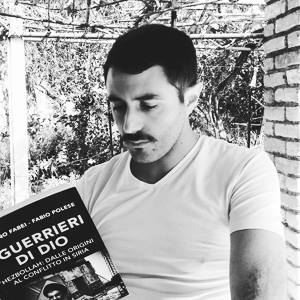Essa última semana foi marcada por manifestações da resistência palestina, bem como pela repressão sionista, com invasões a mesquitas, prisões arbitrárias, chacinas de crianças, expulsões de famílias de suas casas, além de trocas de mísseis entre Israel e o Hamas. Qual foi o estopim desse novo conflito e quais foram os acontecimentos recentes que levaram a essa nova intensificação do longo conflito entre Israel e Palestina?

“If I don’t steal it, someone else is gonna steal it” (Se eu não o roubar, outra pessoa o roubará). Esta é a declaração emblemática de um colonizador sionista de origem norte-americana a uma das famílias palestinianas que vive no bairro do Xeque Jarrah em Jerusalém Oriental[1]. Face à propaganda pró-sionista gritante dos meios de comunicação social e das forças políticas “ocidentais” na sua totalidade, é necessário retraçar brevemente os fatos que conduziram a um novo confronto militar entre a entidade sionista e a Resistência palestina.
Na origem dos vibrantes protestos dos últimos dias esteve a tentativa de despejo forçado de cinco das vinte e oito famílias palestinianas que viviam no bairro Xeque Jarrah. Estas famílias vivem aí desde 1948. Na realidade, são refugiados, uma vez que foram expulsos das suas casas anteriores após o primeiro conflito árabe-israelense.
A tentativa de expulsá-los é incitada por várias organizações de colonos, incluindo Nahalat Shimon (que visa expulsar todos os palestinos da área) e Ataret Kohanim (um movimento teoricamente de inspiração religiosa, mas bem ligado à “direita” sionista radical que emergiu vitoriosa das recentes eleições). Ambos os grupos apoiam o projeto “Grande Jerusalém”, destinado à transformação demográfica da cidade velha de Jerusalém, que no mesmo nome recorda outro projeto sionista: o do “Grande Israel” desde o Eufrates até ao Nilo desenhado por Theodor Herzl.
As reivindicações sionistas baseiam-se numa lei, promulgada após a ocupação de Jerusalém Oriental em 1967: os sionistas descendentes de judeus que viviam na área antes de 1948 são autorizados a reclamar direitos de propriedade nos territórios onde vive um segmento da população, à qual qualquer direito é negado, apesar da presunção “democrática” do enclave “ocidental” no Oriente Próximo.
Naturalmente, os meios de comunicação social do “Ocidente” construídos sobre a mentira ideológica dos “valores judaico-cristãos” não relataram as declarações feitas sobre esta questão pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, que numa declaração, além de condenar a violência usada contra os crentes muçulmanos que vão rezar na Mesquita de Al-Aqsa, falou de uma “tentativa inspirada numa ideologia extremista que nega o direito de existência àqueles que vivem nas suas próprias casas”[2]. Fazendo-lhe eco foi o Patriarcado Ortodoxo Grego de Jerusalém, que através da voz do Monsenhor Atallah Hanna, já vítima de vários ataques sionistas, chamou cristãos e muçulmanos para defenderem juntos a cidade[3].
A segunda causa foi a provocadora vontade de fazer passar a chamada “marcha das bandeiras” pelo bairro árabe no dia em que o sionismo celebra a ocupação da parte oriental da cidade. Uma operação que se assemelha muito às marchas orangistas nos bairros católicos de Belfast e que se enquadra no quadro muito mais amplo das contínuas provocações sionistas. Não se pode esquecer, a este respeito, as escavações realizadas sob a Mesquita Al-Aqsa, destinadas a minar as suas fundações[4], ou o famoso “passeio” na Esplanada das Mesquitas (que desencadeou a segunda Intifada) do criminoso de guerra Ariel Sharon, responsável tanto pelas mortes de camponeses palestinianos indefesos entre os anos 50 e 60 do século passado pela miserável Unidade 101, como pelo massacre de Sabra e Shatila nos campos de refugiados de Beirute, no início dos anos 80.
Escusado será dizer que a ocupação sionista da parte oriental da cidade em 1967 já tinha produzido em grande parte os seus efeitos devastadores. Uma das primeiras medidas tomadas pelos ocupantes, de fato, foi a de arrasar um bairro inteiro (de enorme valor histórico) da cidade velha a fim de criar uma praça em frente ao “muro ocidental”; o mesmo a partir do qual os colonos festejaram à vista das chamas que se elevavam da esplanada. Uma prática utilizada, por afinidade ideológica, também pelo wahhabis sauditas na região oriental da al-Qatif, onde os centros históricos habitados pela população xiita (a maioria na área) foram arrasados com a desculpa do seu redesenvolvimento.
Outra operação semelhante à que os sionistas estão a realizar nos territórios ocupados da Palestina (e que goza do mesmo silêncio de informação) é a implementada pelas autoridades indianas em Jammu e Caxemira. Aqui, de fato, com a vontade precisa de alterar a demografia da região com uma maioria muçulmana, o governo do BJP em Nova Deli (em excelentes relações com o sionismo), através da revogação do Artigo 370 da Constituição que proibia a compra de propriedade a cidadãos indianos de outros estados em Jammu e Caxemira, está a promover a colonização hindu da área.
Esta é também uma das razões pelas quais as autoridades paquistanesas, embora aliados ambíguos do “Ocidente”, compararam frequente e voluntariamente a condição da Palestina à de Caxemira; com base neste pressuposto, o atual Primeiro-Ministro Imran Khan (mais próximo da China e da Turquia) recusou categoricamente o apelo das monarquias do Golfo para normalizar as relações com Israel.
Agora, ignorando as distorções flagrantes da realidade também no que diz respeito aos ataques sionistas à Faixa de Gaza (os centros operacionais do Hamas não estão localizados nos bairros residenciais da Faixa de Gaza e certamente não em edifícios de doze andares, mas estão instalados em bunkers subterrâneos), os fatos a que estamos a assistir merecem reflexão também a nível geopolítico.
Muitos analistas afirmaram que o atual crescimento da tensão vai beneficiar tanto Netanyahu como o Hamas, visando conquistar uma posição de domínio na política interna palestiniana.
Se é verdade que o Al-Fatah e a sua liderança já perderam credibilidade, não é certo que a situação atual possa favorecer as políticas do atual primeiro-ministro sionista. A resposta maciça da Resistência Palestiniana, de fato, não só refutou a alegada impenetrabilidade do sistema de defesa da Cúpula de Ferro (patrocinado pelos EUA durante a administração Obama), como também demonstrou inequivocamente que os muito tímidos “Acordos de Abraão” (um produto do esquema trumpista do século), longe de serem acordos de paz, são apenas acordos militares-comerciais que de forma alguma podem resolver os problemas da Palestina e do seu povo, negando a sua existência.
A este respeito, não devemos esquecer o que aconteceu recentemente na Jordânia (um país que, entre outras coisas, através da sua fundação religiosa é responsável pela gestão da Esplanada das Mesquitas). O reino hachemita, de fato, opôs-se abertamente ao plano concebido pelo genro de Donald J. Trump, causando a ira de Israel, e isto porque Tel-Aviv tem garantido a sobrevivência da Jordânia durante décadas, “estado tampão” entre a própria entidade sionista e o Iraque (antes deste último ter sido destruído pela agressão anglo-americana em 2003). Notando o fato de a Jordânia ter perdido a proeminência geopolítica que lhe tinha sido dada no passado por razões defensivas (um processo bem descrito pela própria imprensa sionista)[5], Tel-Aviv, confrontada com a recusa de Abdullah II, decidiu cortar o abastecimento de água ao Reino a fim de aumentar o descontentamento social e desestabilizar gradualmente o país, minando a autoridade do soberano. Por outras palavras, ele tentou afirmar a inelutabilidade do novo sistema imposto pelos acordos.
A natureza destes acordos foi imediatamente compreendida pela diplomacia russa, que em março do ano passado acolheu uma delegação do Movimento de Resistência Islâmica em Moscou, não só para restabelecer as relações entre este e a Síria baathista, que se tinham deteriorado após 2012, mas também para apoiar a causa dos “dois Estados” contra a anexação sionista de uma grande parte da Cisjordânia prevista pelo plano trumpista[6]. Para ser justo, muito provavelmente, Moscou logo percebeu que o verdadeiro objetivo dos “Acordos de Abraão” (aos quais se acrescenta o ativismo da OTAN na Europa Oriental) é construir uma fissura entre o espaço mediterrânico e a Europa Ocidental e o resto do continente eurasiático.
A aproximação entre o Hamas e a Síria merece alguma atenção, especialmente à luz do fato de que a Turquia de Erdogan, com um impulso de propaganda, se apresenta como o protetor de Al-Quds e, mais geralmente, da Palestina (um papel ao qual as Monarquias do Golfo, terrivelmente comprometidas com o sionismo, já não podem aspirar). Observando as manifestações de apoio à causa palestiniana realizadas em Istambul e nas principais cidades turcas, não se pôde deixar de notar a justaposição das bandeiras palestinianas e das dos chamados “rebeldes” sírios: um fato, este, que levanta algumas dúvidas sobre a genuinidade do apoio turco à Palestina. De fato, parece que o “Ocidente” está mais inclinado a ver a Turquia (um membro da OTAN) no papel de patrono da causa palestiniana, em vez de deixar que a República Islâmica do Irã assuma esse papel.
Num artigo publicado no sítio informático da “Eurasia” em Setembro de 2020, intitulado O Declínio dos EUA e o Eixo Islâmico-Confuciano, o escritor tinha sublinhado as preocupações que os encontros em Beirute entre as lideranças do Hamas e do Hezbollah tinham gerado no quartel-general das forças de defesa sionistas. A tese defendida nessa ocasião era que uma cooperação mais forte entre os ramos libanês e palestino da Resistência teria sido capaz de aumentar as capacidades militares e estratégicas desta última (muito limitada e reduzida em vários anos em que a estratégia divisionista sionista havia prosperado no conflito sírio).
Nestes dias podemos ver os primeiros resultados desta cooperação, devido ao esforço (empreendido principalmente pelas Forças Quds da Guarda Revolucionária Iraniana) para levar as capacidades militares da Resistência Palestina a um nível igual ao do Hezbollah e, sobretudo, do Ansarullah no Iêmen. De fato, a Faixa de Gaza partilha com o Iêmen Livre o destino de estar sitiado. Consequentemente, a única solução plausível continua a ser a de um apoio direto limitado (por razões óbvias) e de um apoio indireto substancial através da transferência de informação para a construção de tecnologia militar no local.
Fonte: Eurasia Rivista