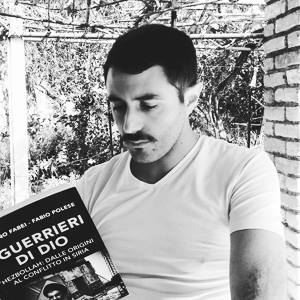Antes de examinar os resultados da cúpula de Tianjin, seria oportuno deter-nos no que a Organização para Cooperação de Xangai (OCX) representa hoje.

O que é a Organização para Cooperação de Xangai?
Antes de examinar os resultados da cúpula de Tianjin, seria oportuno deter-nos no que a Organização para Cooperação de Xangai (OCX) representa hoje. Ela, de fato, nasceu em 2001 como sucessora do grupo Xangai 5 e como um instrumento de combate ao terrorismo, às correntes separatistas e às organizações criminosas (envolvidas no tráfico de drogas ou de seres humanos) na Ásia Central, e incluía inicialmente a China, a Rússia e as repúblicas centro-asiáticas ex-soviéticas, com exceção do Turcomenistão. Posteriormente, em 2017, juntaram-se ao grupo a Índia e o Paquistão; em 2023 foi a vez do Irã (como resultado de uma estratégia de abertura total para a Ásia já almejada durante a presidência de Ahmadinejad) e, em 2024, da Bielorrússia. Aos membros efetivos somam-se diversos observadores, parceiros de diálogo e potenciais candidatos, entre os quais se destacam a Turquia, o Egito e a Arábia Saudita.
Em outras palavras, tentando também projetar para o futuro o sentido último da Organização, seria possível prever seu papel como braço “militar” (com tarefas de cooperação no âmbito da segurança, embora estas tenham sido ampliadas consideravelmente ao longo das últimas cúpulas) da plataforma BRICS, à qual, por sua vez, caberia a tarefa de se dedicar à parte econômico-financeira da evolução multipolar.
Nesse sentido, são emblemáticas as palavras do presidente chinês Xi Jinping na cúpula da OCX em Samarcanda, em 2022, durante a qual ele indicou os “cinco pontos que constituem o espírito de Xangai”:
- Confiança política. Guiados pela visão de forjar uma amizade duradoura e a paz entre os Estados membros da OCX, respeitamos os respectivos interesses fundamentais e a escolha do caminho de desenvolvimento de cada um, e nos apoiamos mutuamente para alcançar a paz, a estabilidade, o desenvolvimento e a renovação.
- Cooperação vantajosa para todos. Satisfazemos os interesses recíprocos, permanecemos fiéis ao princípio da consulta e da cooperação para benefícios compartilhados, reforçamos a sinergia entre nossas respectivas estratégias de desenvolvimento e seguimos o caminho da cooperação vantajosa para todos rumo à prosperidade comum.
- Igualdade entre as Nações. Comprometemo-nos a respeitar o princípio da igualdade entre todos os países, independentemente de seu tamanho, o princípio da tomada de decisões baseada no consenso e o princípio de lidar com os problemas por meio de consultas amistosas. Rejeitamos a prática da coerção do grande e forte em detrimento do pequeno e fraco.
- Abertura e inclusão. Defendemos a convivência harmoniosa e o aprendizado mútuo entre diferentes países, nações e culturas, o diálogo entre civilizações e a busca de um terreno comum deixando de lado as diferenças. Estamos prontos para estabelecer parcerias e desenvolver uma cooperação vantajosa para todos com outros países e organismos internacionais que compartilhem nossa visão.
- Equidade e justiça. Comprometemo-nos a respeitar os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas; enfrentamos as principais questões internacionais com base em seus méritos e nos opomos à busca de agendas próprias em detrimento dos direitos e interesses legítimos de outros países[1].
No decorrer da última cúpula, porém, Xi Jinping traçou aquilo que deveriam ser os objetivos do grupo, vinculando-os, como antecipado, de modo direto ao programa dos BRICS: “Devemos favorecer a cooperação em aspectos como energia, infraestrutura, indústria verde, economia digital, inovação científica e tecnológica e inteligência artificial”[2]. Além disso, prosseguiu o presidente chinês, “é preciso se opor à mentalidade de guerra fria, ao confronto entre blocos e às práticas de intimidação internacional”[3].
Alguns elementos críticos
Dito isto, os encontros da OCX devem sempre ser observados e analisados com extrema atenção e cautela. Isto porque, na maioria das vezes, eles terminam em declarações de princípios atraentes que, no entanto, frequentemente não se traduzem na prática. Prova disso é o recente conflito (embora de duração limitada) entre Índia e Paquistão, que terminou com uma substancial “figura feia” para Nova Délhi[4].
Historicamente, tem sido assim por várias razões: interesses conflitantes, conflitos latentes entre alguns membros (como no caso de Índia e Paquistão, Tajiquistão e Quirguistão, mas também China e Índia devido a certas disputas fronteiriças derivadas de uma guerra que remonta ao início dos anos 60 do século passado), desconfiança mútua devido a diferentes aspirações geopolíticas (o atual Cazaquistão, em particular, está tentando se libertar da influência russa). Apenas para dar o exemplo mais óbvio, é bastante claro que a Índia nunca aceitaria participar de um processo de integração eurasiática liderado pela China. Isto porque a Índia, em uma eventual ordem multipolar futura, aspira ser um “polo” por si só, com os nacionalistas hindus (os defensores do hindutva, termo que poderia ser traduzido como “hinduidade”) que sonham com a “Grande Índia”, que vai do Afeganistão até o Mekong e inclui ao norte o Tibete e o Nepal. Esta, na visão deles, seria a área de influência natural da Índia. Além disso, entre eles há quem considere abertamente não apenas a China, mas também a Rússia como um inimigo da Índia; e veem negativamente, por exemplo, o papel que Nehru teve na construção das relações entre Índia e União Soviética durante a Guerra Fria. São ideias sustentadas por muitos intelectuais ligados ao partido de Narendra Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP). E o próprio Modi, que ainda assim permanece um pragmático (semelhante neste aspecto ao presidente turco Recep Tayyip Erdoğan), pronto para se beneficiar de qualquer situação, quando ainda era governador de Gujarat, lançou verdadeiros pogroms contra a população muçulmana ou fingiu não vê-los[5].
Mas o que é realmente o hindutva? Esta é a ideologia, totalmente moderna em suas características, adotada pelo Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS – Organização Nacional de Voluntários), o grupo paramilitar do BJP, do qual Narendra Modi foi por muito tempo um dirigente. O termo hindutva foi popularizado na década de 1920 pelo ativista e político indiano Vinayak Damodar Savarkar graças ao panfleto Hindutva: quem é um hindu?. Em seu breve escrito, Savarkar identificava três pilares fundamentais da ideologia hindutva: a) a nação comum (rashtra); b) a raça comum (jati); c) uma cultura e civilização comum (sanskriti)[6]. Embora se declarasse abertamente ateu, Savarkar acreditava que o hindutva incluía todas as religiões “indianas” (hinduísmo, jainismo, budismo e siquismo), entendidas como religiões nascidas no subcontinente indiano, com a mais que óbvia exclusão do Islã. Ele, de fato, estava convencido de que o verdadeiro inimigo da Índia, mais ainda do que o colonialismo britânico, era precisamente o Islã, considerado como a “fé do estrangeiro”[7]. Este substrato ideológico, especialmente nas últimas décadas, fez com que a comunidade islâmica da Índia (a terceira maior do mundo em termos de tamanho) fosse frequentemente acusada de mostrar uma “atitude antinacional”.
A isso se soma o fato de que a Índia frequentemente opera em termos de choque de civilizações e raramente em termos de cooperação mutuamente vantajosa ou de respeito mútuo pelas diferenças. Sem considerar a amizade “fraterna” que liga a Índia atual a Israel (a Índia é um dos principais compradores da indústria bélica israelense)[8]. Justamente Israel, hoje, representa o principal obstáculo para a criação efetiva de uma ordem multipolar, pelo simples fato de que, uma vez cessado o predomínio dos EUA dentro das instituições internacionais (ao final do processo de “democratização das relações internacionais” caro a Pequim), o Estado judeu acabaria sendo julgado pelo que realmente é: uma entidade terrorista. Razão pela qual, apesar da substancial impossibilidade de Washington sustentar uma agenda global agressiva, com múltiplos compromissos em diferentes teatros, o lobby sionista no Congresso continua a pressionar pelo intervencionismo dos EUA, especialmente no Oriente Médio, historicamente considerado central e preeminente em nível global. Ao excesso intervencionista, além disso, liga-se o risco da “sobrextensão imperial” de que falou em seu tempo o historiador britânico Paul Kennedy. Este, no final dos anos 80 do século passado, afirmou: “Os Estados Unidos correm agora o risco, tão familiar aos historiadores da ascensão e queda das grandes potências do passado, daquilo que se poderia chamar de excessiva extensão imperial: ou seja, que os governantes de Washington devem enfrentar o fato desagradável e comprovado de que o número de interesses e compromissos dos Estados Unidos hoje vai muito além das possibilidades reais que o país tem de protegê-los e mantê-los”[9].
A este respeito, poderia-se afirmar que na administração trumpista podem ser reconhecidas duas almas: uma é a neocon (evidente em personagens como o Secretário de Estado Marco Rubio, ligado ao lobby sionista através do grupo Christians United for Israel) que aspira manter viva a ideia unipolar; enquanto a outra, mais realista, espera e age para que no futuro sistema multipolar os Estados Unidos mantenham, no entanto, uma posição de primazia estratégica sobre os outros polos (motivo pelo qual a colônia europeia foi protegida com o acordo neofeudal sobre tarifas e o programa de rearmamento, e motivo pelo qual se busca a plena aplicação da Doutrina Monroe no “quintal” com os ataques à Venezuela). Esta, aliás, parece ter se tornado também a posição de Aleksandr Dugin. O pensador russo, de fato, ao pressionar por uma espécie de aliança tácita entre Estados Unidos e Rússia (ou até mesmo pela entrada dos EUA nos BRICS), parece incapaz tanto de compreender a natureza real do atual poder norte-americano quanto o fato de que as aspirações trumpistas sobre a Groenlândia têm como objetivo reduzir a vantagem da China e da Rússia nas rotas árticas (a posse estadunidense da ilha ártica, de fato, estaria orientada principalmente em chave antirrussa). É indubitável a existência na Rússia de uma corrente que visa chegar a um acordo com os Estados Unidos (que, no entanto, continuam a enviar armas para a Ucrânia, via Europa). Com esta corrente, que tem em Dugin uma referência ideológica, mas deve sua real capacidade de influência a alguns oligarcas, Vladimir Putin inevitavelmente tem que mediar (sem considerar a presença de um lobby judeu de não pouca importância também dentro das fronteiras russas).
Voltando à Índia, os primeiros teóricos do hindutva nutriam admiração e simpatia pelo sionismo. A isso se soma o fato de que o Paquistão frequentemente compara a causa da Caxemira à da Palestina. E justamente sob Modi foi revogado o artigo 370 da constituição indiana, que garantia autonomia à Caxemira, abrindo as portas para a colonização hindu da região.
Ao mesmo tempo, é oportuno lembrar que os interesses geopolíticos da China, tanto no Oriente Médio quanto na África (onde a China está em aberta competição com a Índia com seu “Modelo Mumbai”)[10], são frequentemente contraditórios (empresas chinesas, por exemplo, cooperam ativamente com empresas agrícolas israelenses ligadas também ao sistema colonial vigente na Cisjordânia ocupada). Este é, sem dúvida, um aspecto crucial a ser levado em consideração. Se as forças multipolares não derem o exemplo neste sentido (como fez, ainda que tardiamente, a Turquia) interrompendo suas relações comerciais com Israel, sua pretensão de serem melhores que o Ocidente (pense-se na ideia de “solidariedade entre civilizações há muito oprimidas” que está na base das relações entre Irã e China, por exemplo) permanece sem fundamento, independentemente das declarações de condenação de praxe do genocídio em curso na Palestina.
Rumo a uma cooperação sino-indiana?
Feita esta premissa, é possível uma cooperação real sino-indiana em chave antiocidental? A resposta é bastante complexa. À margem do evento de Tianjin, Xi afirmou: “O mundo está se transformando rapidamente. Índia e China são os dois países com as civilizações mais ricas e antigas. Somos os dois países mais populosos do mundo e ambos parte do Sul Global […] seria vital sermos amigos e bons vizinhos. É hora que o elefante e o dragão avancem juntos por este caminho”[11]. Certamente, justamente o último encontro da SCO parece ter indicado um caminho importante neste sentido: a Índia está se livrando dos títulos do Tesouro americano e parece disposta a cooperar com Rússia e China para iniciar um processo de desdolarização da economia global que representa, em todos os aspectos, uma grave ameaça para Washington. Em geral, especialmente China e Índia parecem querer seguir o caminho do acompanhamento do declínio dos Estados Unidos, conscientes de que um colapso imediato e súbito deles não beneficiaria realmente ninguém. As duas potências asiáticas, de fato, parecem querer seguir a trajetória delineada no texto do cientista político Joshua I. Shifrinson, Rising Titans, Falling Giants: How Great Powers Exploit Power Shifts. Aqui, especificamente, destaca-se como duas potências emergentes (EUA e URSS), embora em conflito entre si, acompanharam o declínio dos “impérios” coloniais europeus (Reino Unido e França) ao final da Segunda Guerra Mundial. Diferentemente do que fizeram os próprios Estados Unidos com a União Soviética no final do século passado, quando Washington utilizou uma estratégia muito mais agressiva para favorecer a implosão do bloco socialista[12].
Ao mesmo tempo, é necessário destacar como um dos intelectuais chineses mais influentes ligados ao PCCh, Wang Huning, já havia previsto amplamente o declínio estadunidense após uma longa viagem de estudos na América do Norte em meados dos anos 80. Desta experiência nasceu o texto America contra America (1991), no qual Wang destacava o fato de que os Estados Unidos, entre uma forma de poder oligárquica que deixava pouco espaço para o mito democrático, tensões étnicas e sociais, bolhas econômico-financeiras de vários tipos e hiperativismo militar, estavam de qualquer forma destinados ao declínio.
Independentemente da explosão total mais ou menos iminente das tensões internas, o desafio aberto da China, que diminui seu poder internacional ao fazer lucrativos negócios com países submetidos a regimes de sanções (Rússia, Irã e Venezuela, onde empresas chinesas de extração de petróleo estão particularmente ativas recentemente), representa um sinal fundamental que levou também outras nações a se desvencilharem progressivamente da órbita estadunidense. Obviamente, dentro deste processo de decadência inexorável, será necessário avaliar qual será a reação dos EUA, a qual, considerados os primeiros meses da nova administração Trump, poderia ser descompensada e histérica, repleta de ameaças (muitas sem pé nem cabeça), acusações às administrações anteriores, para então tentar chegar a um acordo de fundo que salve pelo menos a face da América (uma derrota que Trump possa de qualquer forma propagandear como vitória, pelo menos no plano interno).
O declínio do Ocidente
A manifestação plástica do declínio do Ocidente (e especialmente de sua periferia europeia) pode ser bem representada pela surpresa da Alta Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Kaja Kallas, diante do desfile militar pelo dia da vitória em Pequim. Kallas, de fato, pareceu ignorar o fato de que a China, durante a Segunda Guerra Mundial, teve quase 20 milhões de baixas na luta contra a ocupação japonesa.
Justamente o desfile militar de 3 de setembro provocou reações descompensadas nos meios de informação ocidentais, que o definiram como um “desafio aberto ao Ocidente” ou como o “desfile dos autocratas”, vista a presença do líder norte-coreano Kim Jong-un. Naturalmente, a ênfase colocada neste evento era toda dirigida a sustentar o programa de rearmamento europeu e os ímpetos belicistas da chamada “coalizão dos dispostos”, que, com os arsenais semivazios, delira com ataques a Kaliningrado e envio de tropas para a Ucrânia. Um programa que nem sequer tem o mérito de garantir uma soberania militar do Continente no longo prazo, mas que acentua ainda mais sua dependência em relação aos Estados Unidos.
Justamente no que concerne aos EUA, quem escreve sustentou também em outras ocasiões a tese de que os primeiros meses da segunda administração Trump foram desastrosos no plano geopolítico: da Ucrânia à Palestina, do Iêmen ao Irã, até a estratégia de contenção da China. Não apenas falharam as tentativas de separar Rússia e China (projeto impossível de realizar no curto ou médio prazo), mas também as pressões sobre a Índia para que não comprasse mais gás e petróleo russos, sob pena de sanções e tarifas, tiveram o efeito de alinhar (talvez momentaneamente) a Índia e a China. Modi, como já destacado, sempre foi muito pragmático. Por um lado, ele inseriu a Índia no Sistema Quad (pseudo-aliança militar antichinesa para o Indo-Pacífico) e deu o aval ao projeto IMEC – India Middle East Economic Corridor (estudado também em chave antichinesa, em contraste com a Nova Rota da Seda, e para transformar Israel em um pivo geopolítico regional e garantir-lhe uma profundidade estratégica que, atualmente, não tem); por outro lado, ele deve de qualquer forma garantir comida, água e energia elétrica (possivelmente a baixo custo) para 1,5 bilhão de pessoas e para um setor industrial em crescimento constante. Razão pela qual ele certamente não pode abrir mão da cooperação econômica com a Rússia e hoje da melhoria das relações com a China. Apesar disso, permanece de pé o Projeto 500, que visa aumentar o intercâmbio Índia-EUA para 500 bilhões de dólares até 2030[13].
De qualquer forma, o único sucesso real a administração Trump obteve onde os Estados Unidos já comandam, ou seja, na Europa, forçando seus vassalos a aceitarem o já citado acordo pouco generoso sobre tarifas (também para mitigar o déficit comercial com a Alemanha às custas de outros membros da UE) e a aumentarem os gastos militares.
Portanto, se realmente se chegar a uma ordem multipolar, a parte da Europa representada pela UE permanecerá em uma condição de cativeiro geopolítico do qual dificilmente poderá se libertar; e isso graças a lideranças políticas desastrosas, que falharam, também intencionalmente (vista sua dependência de grupos de pressão, corporações multinacionais e institutos financeiros), em toda a linha, desde o combate à crise pandêmica (com os acordos secretos com as empresas farmacêuticas), passando pela Ucrânia e pela Palestina.
A única esperança que a Europa pode ter para readquirir uma real subjetividade geopolítica depende da derrota total da OTAN na Ucrânia: ou seja, do fracasso completo dos objetivos estratégicos da Aliança Atlântica no país da Europa Oriental, como prelúdio para a dissolução da própria Aliança. Além disso, seria necessária também a derrota estratégica de Israel em Gaza e fazer com que este se torne incapaz de prejudicar seus vizinhos. Sua presença na bacia mediterrânea, de fato, torna impossível qualquer aspiração à soberania geopolítica da Europa. Pense-se, a este propósito, no dramático caso italiano. O ministro israelense Ben Gvir ameaçou abertamente a Europa com o espantalho do terrorismo islamista (que Israel amplamente contribuiu para criar e alimentar)[14]. Pois bem, a cibersegurança italiana, graças ao governo Meloni, desde 2023 está nas mãos de Israel. Mas o caso italiano não é um caso isolado na Europa.
Portanto, as atuais lideranças da UE deveriam ser zeradas (no curto prazo) e, no futuro, a própria UE deveria ser desmantelada e reconstruída com base em princípios completamente diferentes, inspirados em uma ideia de unidade política e soberana.
Notas
[1]Vertice di Samarcanda. Il discorso di Xi Jinping (trad. di Giulio Chinappi), su www.cese-m.eu.
[2]Key takeways from SCO’s largest ever summit in Tianjin, 3 settembre 2025, www.astanatimes.com.
[3]Ibidem.
[4]Ver, India-Pakistan: verso un nuovo conflitto?, 9 maggio 2025, www.eurasia-rivista.com.
[5]Ver S. Majumder, Narendra Modi allowed Gujarat anti-muslim riots, 22 aprile 2011, www.bbc.com.
[6]C. Jaffrelot, Hindu Nationalism. A Reader, Princeton University Press, Princeton 2007, pp. 14-15.
[7]S. Arvid, On Hindu, Hindustan, Hinduism and Hindutva, Numen – International Review for the History of Religions, vol. 49, N. 1/2002.
[8]Ver, La connessione indo-israeliana, 27 dicembre 2019, www.eurasia-rivista.com.
[9]P. Kennedy, Ascesa e declino delle grandi potenze, Garzanti, Milano 1999, p. 26.
[10]Ver Atlante Geoeconomico Nr. 11. L’India fra Est ed Ovest, canale YouTube “Il Veritiero”; India e Africa: un’ascesa verso una partnership strategica, 4 giugno 2024, www.africa24.it.
[11]‘Elephant and dragon must come together’: Xi’s outreach to Modi amid Trump tariffs, 31 agosto 2025, www.hindustantimes.com.
[12]Ver J. I. Shifrinson, Rising titans, falling giants: how great powers exploit powers shifts, Cornell University Press, Ithaca-Londra 2018.
[13]U.S. and India to double bilateral trade in five years, Prime Minister Modi says, as Trump tariffs loom, 13 febbraio 2025, www.cnbc.com.
[14]Il ministro di estrema destra Ben Gvir contro l’Europa: ‘Proverà il terrorismo in prima persona’, 2 settembre 2025, www.ansa.it.