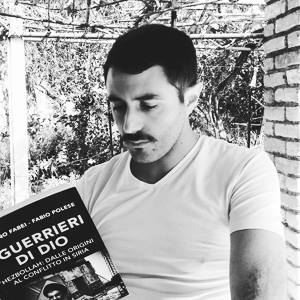Damasco caiu sem lutar, por traição interna, diante das forças terroristas que assolam a Síria há 13 anos.

Introdução
O colapso induzido do processo de Astana, que havia levado ao congelamento do conflito sírio através da marginalização dos interesses ocidentais (representados apenas em parte pela Turquia), ainda que possa ter sido acordado entre algumas das partes envolvidas, marca, de qualquer forma, um recuo decisivo na construção de uma ordem global multipolar. Naturalmente, é cedo para avaliar os efeitos a longo prazo da possível queda de Damasco (resultado, segundo o presidente turco Erdoğan, da recusa constante de Bashar al-Assad em aceitar um acordo que de qualquer maneira o levaria a perder parte do território nacional)[1]. No entanto, parece oportuno tentar identificar tanto os diferentes atores em jogo quanto seus interesses no teatro sírio.
Antes de mais nada, é importante destacar que, se em 2011 o conflito sírio explodiu como fruto de uma mistura de fatores internos (relações mais ou menos conflituosas entre centro e periferia; tensões confessionais; crise ambiental; falha nos programas de abertura econômico-política) e fatores externos (disputa aberta sobre os corredores de transporte de gás; hostilidade ao plano geopolítico de Assad de fazer da Síria uma ponte entre o mundo árabe e persa), hoje sua recrudescência é exclusivamente o produto de fatores geopolíticos externos. Certamente, no futuro será necessário investigar o colapso militar total do Exército Árabe Sírio (entre deserções e falta de preparo); uma instituição na qual a Síria baathista construiu parte de sua força, juntamente com uma certa pervasividade dos aparatos de segurança (cuja suposta “onipotência” foi, de qualquer forma, exagerada pela literatura acadêmica ocidental sobre os “Estados Mukhabarat” e pelo imenso volume de propaganda produzido pelos meios de comunicação). Além disso, em um Ocidente cada vez mais direcionado à afirmação definitiva de uma forma oligárquica de hipercapitalismo de vigilância (onde os resultados eleitorais são aceitos apenas quando atendem a determinados “critérios”), é sempre curioso observar a acusação de “falta de democracia” dirigida a outros países.
De qualquer forma, é necessário considerar que o Exército Árabe Sírio estava em constante mobilização desde 2011, forçado a combater em múltiplas frentes (como a de Deir ez-Zor, que nunca foi completamente estabilizada) e sujeito a severas limitações no que diz respeito à disponibilidade de meios e suprimentos. O regime de sanções imposto à Síria pelo Caesar Act dos Estados Unidos reduziu a logística militar ao mínimo, além de ter levado a população síria à fome. Já em 2020, o bispo latino de Aleppo, monsenhor George Abu Khazen, havia afirmado que esse regime, atingindo principalmente as camadas mais pobres da população e as minorias, havia criado um desastre social ainda pior do que a ocupação da cidade por grupos terroristas[2]. Nesse sentido, deve-se refletir sobre o fato de que o governo sírio escolheu não lutar em áreas urbanas para evitar mais sofrimento à população civil.
A isso soma-se o contínuo saque das riquezas agrícolas e petrolíferas sírias, realizado primeiro pelo autoproclamado Estado Islâmico (que contrabandeava petróleo pela fronteira turca) e, posteriormente, pelos Estados Unidos e pelas Forças Democráticas Sírias (grupo majoritariamente curdo), que ocuparam de forma permanente a rica região a leste do rio Eufrates.
Além disso, chama atenção o timing da ofensiva lançada pelas milícias que o processo de Astana havia confinado à área de Idlib, coincidindo com o cessar-fogo no Líbano (ocorrido após o fracasso substancial da operação terrestre israelense no sul do país dos cedros) e em um momento em que a Rússia parece “distraída” pela evolução do conflito na Ucrânia (entre a aparente vontade de desengajamento manifestada pela administração Trump em sua entrada e o impulso incessante à intensificação bélica da administração Biden em sua saída).
No geral, a queda de Damasco, mesmo que houvesse sido produzida por um cálculo geopolítico que poderia resultar em concessões no teatro ucraniano em troca da cessão do Oriente Próximo aos projetos geopolíticos dos “Acordos de Abraão” (expressão máxima do plano neoconservador do “Grande Oriente Médio”), terá efeitos extremamente prejudiciais tanto para o Irã (como será explicado) quanto para a Rússia (no médio/longo prazo). Isso ocorre porque sua frente sul permanece ainda mais vulnerável — considerando também a presença significativa de milicianos caucasianos dentro dos supostos grupos “rebeldes” — e sob influência direta da Turquia, dos EUA e de Israel (todas potências presentes, embora de formas diferentes, justamente na área do Cáucaso, da Geórgia ao Azerbaijão).
Nesse contexto, torna-se necessária uma apresentação dos grupos que levaram ao derrubamento de Bashar al-Assad, começando com uma breve biografia do líder da Hayat Tahrir al-Sham, Abu Muhammad al-Julani, e tendo em mente que a suposta componente “moderada”, representada pelo Exército Livre da Síria (ELS), atualmente é bastante irrelevante (sem contar que o próprio ELS, no passado, operou em total alinhamento de intenções com os mesmos agrupamentos terroristas presentes na Síria desde 2011, apoiados de várias formas pelos EUA por meio da operação Timber Sycamore)[3].
O que é Hayat Tahrir al-Sham?
Abu Muhammad al-Julani nasceu Ahmed Hussein al-Shar’a em Riade, na Arábia Saudita, em 1982, filho de um pai sírio, engenheiro empregado na indústria petrolífera. Existem poucas informações sobre a vida de al-Julani antes de 2003, além de breves referências a um relacionamento com uma mulher alauíta, reprovado por ambas as famílias[4]. A partir de 2003, ele aparece no Iraque lutando ao lado do ramo iraquiano da al-Qaeda, inicialmente liderado pelo terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. Vale lembrar que, antes da agressão da “coalizão dos voluntários” a Bagdá em 2003 (baseada em provas fabricadas pela administração Bush Jr. – como o famoso frasco de Colin Powell na ONU), a presença da al-Qaeda no Iraque era bastante limitada. Apesar das tentativas de associar o grupo ao regime de Saddam, um relatório do Senado dos EUA de 2004 sobre a situação no Iraque antes da agressão destacou que o próprio Saddam havia tentado (sem sucesso) localizar e capturar al-Zarqawi, que desde 2001 estava instalado na região nordeste do Iraque (uma área de maioria curda)[5]. A AQI protagonizou a guerra civil iraquiana, destacando-se pela brutalidade de seus ataques contra a população xiita.
Al-Zarqawi morreu em 2006 em um bombardeio dos EUA. Ainda em 2006, al-Julani foi preso pelos Estados Unidos e passou cinco anos nas infames prisões iraquianas, incluindo Abu Ghraib.
A experiência no cárcere foi crucial, principalmente porque a CIA recrutou consideráveis recursos humanos nessas prisões. Nesse contexto, é relevante lembrar que o governo reformista iraniano de Khatami, no início dos anos 2000, tentou reconstruir as relações entre a República Islâmica e os Estados Unidos em bases menos conflituosas, inclusive cooperando no combate ao terrorismo. Em particular, foi proposta uma troca de prisioneiros: membros do MeK (organização terrorista iraniana ligada a Saddam) detidos nas prisões dos EUA no Iraque seriam trocados por integrantes da al-Qaeda detidos no Irã. Os EUA recusaram a proposta alegando preocupações com os direitos humanos e as condições das prisões iranianas (ironicamente!). No entanto, a verdadeira razão era que a CIA havia percebido a utilidade potencial desses indivíduos para atacar o Irã internamente.
Após cinco anos de prisão, durante os quais estreitou laços profundos com Abu Bakr al-Baghdadi (o autoproclamado califa do chamado Estado Islâmico), al-Julani reapareceu na Síria liderando a “rebelião” contra Bashar al-Assad pelo Jabhat al-Nusra (na época reconhecido como o ramo sírio da al-Qaeda). Em 2013, após a cisão entre a própria al-Qaeda e o “Estado Islâmico”, a relação entre al-Baghdadi e al-Julani se deteriorou, apesar dos esforços de mediação de Ayman al-Zawahiri (líder da organização terrorista após a morte de Osama Bin Laden)[6]. Depois de ocupar mais de 25% do território sírio, a partir de 2015, o Fronte al-Nusra foi forçado a recuar devido à intervenção russa e aos esforços conjuntos do Hezbollah e dos Pasdaran para manter um canal de abastecimento direto entre Teerã e Beirute. Além disso, em 2017, a oposição a Bashar al-Assad, composta por milícias heterogêneas com diferentes interesses (representando seus respectivos apoiadores externos), fragmentou-se devido à crise entre a Arábia Saudita e o Catar. Assim, o Fronte al-Nusra se tornou primeiro Jabhat al-Fateh al-Sham e, posteriormente, juntamente com outras organizações islamistas, deu origem ao Hayat Tahrir al-Sham, que mantém o controle sobre a área de Idlib ao lado de outros grupos pró-Turquia.
Desde 2015, al-Julani também tenta reconstruir sua imagem e a da milícia que lidera (sobretudo aos olhos do Ocidente e de Israel). Ele afirma nunca ter tido contato com al-Zarqawi e nega envolvimento direto no conflito civil iraquiano. Reiteradas vezes, declara que seus inimigos são exclusivamente o Hezbollah, o Irã e o Exército Árabe Sírio. Destaca o caráter “nacional” da luta de sua milícia (apesar de esta ser amplamente composta por mercenários estrangeiros, como já relatado) e sublinha a mudança de perspectiva do HTS em relação à tradicional orientação transnacional da al-Qaeda. Além disso, promete que os direitos das minorias serão respeitados na “Nova Síria”, embora posteriormente tenha declarado os alauítas como hereges e violado os direitos dos cristãos nas áreas sob seu controle direto.
Sobre a alegada heresia dos alauítas, é importante mencionar que, em seu tempo, tanto o Grande Mufti de Jerusalém, Hajj Amin al-Husayni (sunita), quanto o Imam Musa al-Sadr (xiita), por meio de fatwas (pareceres jurídicos), consideraram os membros dessa particular expressão do esoterismo islâmico como parte integrante da comunidade muçulmana, superando até mesmo os preconceitos do teórico e jurista hanbalita Ibn Taymiyya (1263-1328). Este último, nascido no período das invasões mongóis que destruíram Bagdá, interpretou o colapso do califado como resultado de dissidências e heresias internas à ummah[7].
Quanto à experiência de “governo” em Idlib, surgem diversas sombras, já que o HTS, apesar do fluxo de dinheiro turco que garantiu um certo crescimento econômico, frequentemente utilizou o “punho de ferro” contra a população local, reprimindo com brutalidade (e em várias ocasiões) diferentes protestos (no quase total silêncio da mídia ocidental e com a conivência turca)[8].
O objetivo final, por outro lado, parece ser a criação de uma “república islâmica sunita” na Síria, baseada na particular interpretação da Sharia pelo movimento (uma espécie de hibridização entre correntes extremistas wahhabitas e shafi’itas). Na prática, o destino da Síria, no curto prazo, parece ser o de se transformar em um “buraco negro” (no estilo líbio) no coração do Levante, onde os serviços turcos, norte-americanos e israelenses poderão agir livremente conforme seus interesses. Afinal, basta observar as diretrizes de onde partiu a ofensiva: a área de Idlib, com apoio logístico turco, e a região de Dara’a, próxima às Colinas de Golã, ocupadas por Israel.
O projeto geopolítico
Embora a situação esteja em constante evolução, os analistas israelenses já começaram a propor possíveis soluções para o futuro da Síria, que, em parte, remetem a ideias já propostas no início da década de 1980 por meio do famoso Plano Yinon, publicado pela primeira vez na revista Kivunin (Direções). A perspectiva seria fragmentar a Síria em três regiões ao longo de linhas étnico-sectárias: a área predominantemente alauíta da costa mediterrânea (difícil de ser alcançada pelas milícias sunitas, pois é protegida por uma barreira montanhosa que tornaria sua conquista bastante complexa) com a possibilidade (pelo menos temporariamente) de a Rússia manter suas bases militares em torno de Tartus e Latakia (nesse ponto, um objetivo geopolítico mínimo para Moscou);
a área central sob o controle da suposta “república sunita islâmica”, que atuaria como anteparo para o Hezbollah, isolando-o efetivamente dos canais de abastecimento tradicionais (não se pode excluir que, no caso de um novo ataque israelense contra o Líbano, os grupos terroristas ligados ao HTS poderiam abrir uma frente oriental para enfrentar o Partido de Deus por dois lados); uma área sudeste sob o controle conjunto das milícias EUA-SDF-Drusos. Essas últimas também seriam responsáveis por supervisionar a fronteira com Israel ao longo das Colinas de Golã (tanques israelenses já entraram na Síria para estabelecer uma zona tampão em torno de Quneitra). Nesse caso, deve-se observar que os drusos (uma minoria religiosa que pode ser vinculada ao islamismo xiita ismaelita presente nas Colinas de Golã e em outras áreas dos territórios ocupados pela entidade sionista) são usados por Tel Aviv como guardas de fronteira (razão pela qual eles têm sido frequentemente vítimas de ataques de grupos armados de resistência palestina).
Além disso, a zona de amortecimento israelense mais a presença drusa e curda perto de Golã seriam funcionais tanto para os interesses israelenses de expansão em direção a Damasco (o sonho nunca escondido dos partidos extremistas do sionismo religioso) quanto para evitar o contato direto entre as fronteiras de Israel e a área sob influência turca. Não se deve excluir a possibilidade de que, a longo prazo, os diferentes projetos geopolíticos (Grande Israel e “neo-otomanismo”), apesar dos sucessos alcançados também em Nagorno Karabakh, possam desenvolver interesses divergentes e conflitantes (especialmente com relação ao papel de “pivô” regional para o trânsito de corredores de energia em direção à Europa).
A compartimentalização da Síria, por fim, agravada pelo já mencionado isolamento do Hezbollah (e a possível inclusão do Líbano nos Acordos de Abraão), torna o Irã particularmente vulnerável (a “cabeça do polvo” a ser esmagada, nas palavras do novo Secretário de Defesa do governo dos EUA, Pete Hegseth)[9] e prejudica a construção meticulosa de inúmeras linhas de defesa implementadas pelo General Qassem Soleimani (assassinado pelo governo anterior de Trump). Agora, apenas as milícias xiitas iraquianas permanecem entre Israel e a República Islâmica.
Notas
[1] Erdoğan says Assad declined request for talks on Syria, 6 December 2024, www.hurriyetdailynews.com.
[2] “US sanctions kill us. We will have a hell of a Christmas”, entrevista de G. Micalessin com G. A. Khazen, www.sputniknews.com.
[3] Ver Marija C. Goleniščeva, Syria: il tormentato cammino verso la pace, Sandro Teti Editore, Roma 2022.
[4] Ver Syria war: inside the world of HTS leader Abu Muhammad al-Julani, 22 de junho de 2021, www.middleeasteye.net.
[5] Ver Senate report on Iraqi WMD intelligence, 9 de julho de 2004, www.intelligence.senate.gov.
[6] Ver P. Cockburn, The rise of the Islamic State. ISIS and the new sunni revolution, Verso Books (2015), p. 43.
[7] Veja The Alaouite Gnosis, 26 de abril de 2017, www.eurasia-rivista.com.
[8] Ver Protests have eruppted against another Syrian dictator (Protestos irromperam contra outro ditador sírio), 4 de abril de 2024, www.economist.com.
[9] Ver Pete Hegseth na Conferência Arutz Sheva, www.youtube.com.
Fonte: Eurasia Rivista