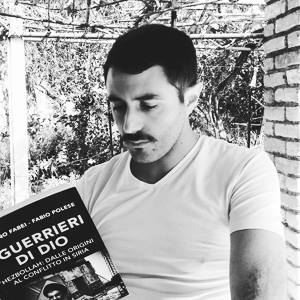Conforme avançamos no segundo mês da atual fase do conflito Israel-Palestina, vai ficando mais evidente que a Resistência Palestina liderada pelo Hamas conseguiu colocar a entidade sionista em uma situação difícil militarmente, politicamente, economicamente, socialmente e no plano informacional.

Para entender o plano ideológico de um conflito, é necessário partir das considerações do teórico militar alemão Carl von Clausewitz (1780-1831). Ele afirmou que a guerra deve sempre ser travada por objetivos políticos específicos; consequentemente, a estratégia militar deve ser desenvolvida subordinada a esses objetivos[1].
Bom. Netanyahu disse: “Israel não começou esta guerra; Israel não queria esta guerra; Israel vencerá esta guerra”[2]. Portanto, antes de mais nada, vale a pena reiterar que, na realidade, o que estamos testemunhando não é uma nova guerra, mas simplesmente o ressurgimento de um conflito que, entre baixa e alta intensidade, vem ocorrendo desde antes de 1948. Poderíamos até mesmo começar em 1936, com a Grande Revolta Árabe liderada pelo Grande Mufti de Jerusalém Hajj Amin al-Husayni (uma revolta dirigida principalmente contra o poder mandatário britânico, que era considerado cúmplice do movimento sionista). Esse ponto é importante, pois ainda há quem defenda a tese de que a consciência nacional palestina é um produto pós-Nakba. Pelo contrário, já nas primeiras décadas do século XX, quando o território ainda estava sob o domínio otomano, houve um florescimento de publicações na Palestina em que intelectuais árabes discutiam qual deveria ser o futuro da própria Palestina[3]. Segue-se que, nesse caso, o primeiro-ministro israelense está operando, voltando a von Clausewitz, no nível da “modificação da realidade”: ou seja, ele finge que a atual situação de conflito é um “ato totalmente isolado que surge repentinamente sem qualquer conexão com a vida anterior do Estado”[4]. Esse, na verdade, é um padrão tradicional da propaganda ocidental (implementado anteriormente na Geórgia e na Ucrânia): é feita uma tentativa de separar o evento de suas causas para inverter suas responsabilidades no tempo e no espaço.
A alegação de que Israel não queria essa “guerra” também deixa algumas dúvidas. Isso porque a operação do Hamas chamada de “Tempestade al-Aqsa” foi o produto de meses (se não anos) de estudo e preparação. E durante esse período, certamente não se pode dizer que o conflito na Palestina estava (completamente) congelado. Na verdade, a população de Gaza tem vivido sob cerco por quase vinte anos (água e eletricidade em massa, suprimentos de alimentos reduzidos, impossibilidade de pescar no mar adjacente à sua costa ou de explorar seus abundantes recursos naturais) e periodicamente submetida a operações aéreas militares israelenses que causam centenas de mortes (principalmente de civis): por exemplo, a Operação Chumbo Fundido (2008-2009), mais de 1.300 vítimas, das quais 900 civis; Operação Pilar de Defesa (2012), mais de cem vítimas civis[5]. Novamente, vale a pena mencionar que em 2023 (fonte: Save the Children) houve o maior número de crianças palestinas mortas pelas forças de ocupação (embora o número se refira à Cisjordânia e não a Gaza)[6].
Netanyahu também declarou que “Israel vencerá essa guerra”. Aqui, é apropriado voltar novamente a von Clausewitz, quando ele afirmou que a guerra deve sempre ter objetivos políticos específicos e que a estratégia militar deve estar subordinada a esses objetivos. Como é sabido, von Clausewitz lutou com o exército do czar contra Napoleão. Também é sabido que a doutrina militar russa está impregnada da teoria clausewitziana. E a guerra na Ucrânia é um exemplo flagrante de um conflito travado com objetivos políticos específicos e com uma estratégia militar subordinada a esses objetivos (é claro que com todas as contradições que podem existir e com os altos e baixos da guerra).
Agora, à luz da declaração do teórico alemão, o que pode significar “Israel vencerá essa guerra”? Para responder a essa pergunta, é preciso primeiro entender quais são os objetivos de Israel, pois até o momento eles não estão muito claros. Portanto, se o objetivo for a eliminação total do Hamas, isso requer um esforço de guerra particularmente grande e tentaremos explicar por quê. Sem considerar, no momento, que o cérebro – a liderança política do Hamas – e seu cofre não estão na Faixa, mas espalhados entre o Catar, o Líbano e o Irã. Se Tel Aviv também quisesse eliminar a liderança do Hamas, teria de recorrer a assassinatos seletivos, nos moldes do que fez no passado com os líderes do Setembro Negro, por exemplo.
Portanto, para eliminar o Hamas (uma eliminação que, em teoria, seria apenas temporária, já que os conflitos assimétricos contra forças insurgentes no Afeganistão, no Iraque ou na própria Palestina nos ensinaram que, para cada militante eliminado, nascem mais dois, se levarmos em conta o considerável aumento demográfico dessas populações), o exército sionista deve primeiro proceder passo a passo: avançar, “recuperar a área”, controlar.
O exército israelense – vale a pena repetir – optou por se envolver em um conflito urbano em uma área densamente povoada. Esse tipo de conflito é extremamente arriscado (as forças armadas em geral sempre tentam evitá-lo) e geralmente favorece aqueles que defendem e não aqueles que atacam. Além disso, esse é um conflito que é travado tanto acima quanto abaixo do solo. Portanto, Israel deve “reivindicar” acima e abaixo do solo. Por exemplo, além do uso de bombas anti-bunker que atingem uma profundidade de 20 a 25 metros ou de “bombas esponja” que bloqueiam a entrada dos túneis com material gelatinoso, nos últimos dias tem se falado em bombear água do mar para inundar os túneis construídos pelo Hamas sob a Faixa de Gaza. Essa solução parece complicada tanto em nível logístico (o transporte de água do mar se tornaria inevitavelmente um alvo) quanto em nível humanitário, já que parte da população civil se refugiou nos mesmos túneis para escapar dos bombardeios sionistas.
Mais uma vez, a IDF optou por se mover por zonas. O problema aqui é que parte da população se desloca da zona de guerra para áreas relativamente mais calmas, o que faz com que, quando o Exército israelense tiver que se deslocar para uma nova zona, ele a encontrará mais povoada do que antes, o que acaba em uma espécie de círculo vicioso.
Lembre-se também de que, até o momento, o Exército israelense está apenas no primeiro estágio desse processo (o avanço) em uma área limitada da Faixa de Gaza e já perdeu um grande número de veículos. E lembre-se de que a “recuperação” e o “controle” (os estágios subsequentes) exigem esforços e tempo ainda maiores (não se deve subestimar, mais uma vez, o fato de que o Hamas vinha se preparando para o conflito urbano há algum tempo, com tantos manuais ilustrativos, distribuídos aos milicianos, sobre onde exatamente atingir os tanques Merkava). Portanto, os custos econômicos, e não apenas as perdas no campo de batalha, serão muito altos para Israel. Outro ponto: Israel tem atualmente um número suficiente de tropas preparadas para conflitos urbanos, acima e abaixo da superfície? A resposta é não. E uma grande parte de seus reservistas não está preparada de forma alguma para o combate, em geral. No momento, apenas os exércitos dos EUA e da China estão treinando continuamente em combate subterrâneo[7]. A China, em particular, concluiu a construção de várias fortificações subterrâneas em Aksai Chin, ao longo da fronteira disputada com a Índia; está se preparando para um possível conflito em uma área densamente povoada, como Taiwan; e montou um sistema de defesa abaixo da superfície de seu território (voltado principalmente para a proteção e ocultação de seus sistemas de mísseis) que tem sido chamado de “a grande muralha subterrânea”.
A esse respeito, outra citação de von Clausewitz parece relevante: “A essência do soldado pressupõe as qualidades de coragem, espírito de sacrifício, perseverança, disciplina, resistência física e psicológica à fadiga e às dificuldades”[8]. O elemento humano, de fato, é crucial no conflito. É por isso que a liderança política sionista tentou definir o confronto em termos existenciais. No entanto, o caráter existencial é ainda mais pronunciado no lado palestino, já que os próprios palestinos (citando Marx e Engels desta vez) têm apenas suas correntes a perder. Consequentemente, não é impróprio falar de uma vantagem psicológica palestina que, a longo prazo (e será um longo tempo), poderia favorecer esse lado da cerca.
Há, é claro, outra opção a ser considerada. Ou seja, que o objetivo de Israel é a limpeza étnica total (ou quase total) da Faixa de Gaza: em outras palavras, empurrar seus habitantes para o Egito ou, talvez, canalizá-los à força para a Jordânia por meio do deserto de Negev. Nesse caso, o objetivo político sionista seria uma nova ocupação permanente da Faixa. É claro que isso seria feito desafiando o direito humanitário (talvez várias resoluções da ONU, como já aconteceu) e com a aquiescência tácita do Ocidente (ou melhor, de seu hegemon, os Estados Unidos, mais os governos de seus estados vassalos na Europa e em outros lugares, que justificariam a ação como “autodefesa”). Essa é uma opção viável? Certamente, a vantagem para Tel Aviv seria a apropriação indevida dos riquíssimos campos de gás marítimos Marine 1 e 2. A esse respeito, deve-se ressaltar que os Acordos de Oslo (de qualquer forma, amplamente desatualizados, para não dizer totalmente fracassados) não mencionaram de forma alguma a exploração dos recursos do fundo do mar como um direito reconhecido da Autoridade Nacional Palestina. Consequentemente, Israel sempre considerou nulos e sem efeito os acordos feitos por Arafat no início dos anos 2000 com a British Gas para a exploração desses recursos. Isso sugere que, caso a liderança política da Faixa “recuperada do Hamas” seja confiada ao que atualmente é uma entidade colaboracionista do ocupante (a ANP), a extração e os lucros dos recursos acabariam totalmente (ou quase totalmente) nas mãos de Tel Aviv, cuja ambição de se tornar uma potência energética regional é bem apoiada pelos Estados Unidos (que podem explorá-la ainda mais para manter a Europa em um estado de cativeiro geopolítico, após o desastroso regime de sanções que impôs a si mesma após o conflito na Ucrânia).
Ao mesmo tempo, porém, o projeto de limpeza étnica, seja parcial ou total, implicaria o risco de o conflito se espalhar para outros atores regionais (além das forças iemenitas que, anulando a afirmação da Convenção de Montego Bay sobre a chamada “passagem de trânsito”, já optaram por travar uma guerra contra o tráfego comercial direcionado à entidade sionista pelo Estreito de Aden). Consequentemente, as chances de vitória real para Israel ainda permanecem pequenas, também em virtude do fato de que o Hamas, paradoxalmente, já alcançou muitos dos objetivos que se propôs com o ataque de 7 de outubro.
Obviamente, parece pretensioso fazer hoje avaliações finais (que podem se revelar totalmente falaciosas) sobre quem ganhou e quem perdeu. Os especialistas nisso são os expoentes do jornalismo geopolítico que lotam as salas de TV e até mesmo alguns canais de notícias em plataformas de rede. Entretanto, algumas conclusões podem ser tiradas.
No momento, o plano de guerra informacional está todo a favor do Hamas. Emblemáticas, nesse sentido, foram as imagens da libertação de alguns reféns israelenses (civis), tratados em conformidade com a injunção profética que os convidava a cuidar e a se comportar com gentileza em relação aos prisioneiros (não se deve esquecer que, como um “Movimento de Resistência Islâmica”, a abordagem do Hamas ao conflito segue normas precisas derivadas da teologia). E não é só isso. Com a Operação Tempestade al-Aqsa, o Hamas literalmente expôs as enormes deficiências do aparato de segurança israelense e daquele que era considerado um dos exércitos mais organizados e preparados do mundo. Notável, nesse caso, foi a escolha cuidadosa de alvos do Movimento de Resistência, que, após neutralizar torres de controle com seus drones, atacou quartéis ocupados por petroleiros ou pessoal de logística, todos eles relativamente menos preparados para o combate do que as tropas de assalto.
A esse respeito, um breve parêntese também deve ser aberto, já que alguns historiadores militares israelenses há muito tempo criticam abertamente aquela que é uma das instituições sionistas por excelência: o exército. A referência é a Uri Milstein e Martin Van Creveld. O primeiro, que chegou às manchetes por ter afirmado na época que Yitzhak Rabin era de alguma forma responsável por seu próprio assassinato[9], declarou que o exército israelense é uma instituição anti-intelectual que mata todas as formas de pensamento crítico. Van Creveld, por outro lado, descreveu a IDF como uma espécie de milícia armada não profissional, cuja suposta superioridade em relação a outros exércitos regionais se dá apenas pelo uso e posse de sistemas de armas sofisticados. Além disso, Van Creveld lamentou novamente a ignorância quase total em termos de doutrina e teoria de guerra dos oficiais israelenses, que preferem se manter atualizados apenas por meio dos canais de informação do rabinato militar (um efeito inevitável do triunfo político do sionismo religioso radical na sociedade israelense)[10].
Levando o discurso para um nível puramente geopolítico, parece evidente que o Hamas alcançou o objetivo de desacelerar (para não dizer interromper, pelo menos momentaneamente) as negociações, embora difíceis, para a normalização “oficial” das relações entre Israel e a Arábia Saudita e, de modo mais geral, o processo iniciado pelos chamados “acordos de Abraão” com seu corolário de projetos de infraestrutura. Entre eles, o Corredor Trans-Árabe, apoiado por uma Índia com excelentes relações com Israel, uma espécie de espinho no lado dos BRICS, apesar do papel não desinteressado que desempenhou na superação do regime de sanções ocidentais imposto a Moscou. (O Corredor Trans-Árabe deveria conectar o leste do Mar Mediterrâneo com o Oceano Índico por meio do Golfo Pérsico e do Mar Arábico).
Além disso, a ação do Hamas expôs ainda mais a mentalidade ocidental de “dois pesos e duas medidas”: as mortes de civis em dois meses de ação israelense são proporcionalmente muito mais altas do que na Ucrânia desde a intervenção direta da Rússia no conflito. Ou melhor, minou, se é que ainda havia necessidade, a credibilidade do Ocidente como ator regional (no contexto do Levante) e global, em benefício de seus principais concorrentes, Moscou (que até recebeu uma delegação do Hamas), Teerã e Pequim (já protagonista do acordo histórico sobre a reabertura dos canais diplomáticos entre a Arábia Saudita e o Irã). Portanto, as palavras do Guia da Revolução Islâmica do Irã, Imã Khamenei, sobre a “desamericanização” como o futuro resultado da “Tempestade Al-Aqsa”, não são de todo descabidas.
A proeza informativa do Hamas leva ao exame de outra declaração de Netanyahu. Este último, de fato, referindo-se às Escrituras, falou de uma guerra entre “o povo da luz” e “o povo das trevas”[11]. Sem dúvida, esse é um argumento bastante conhecido, diretamente relacionado ao messianismo protestante e, em alguns aspectos, ao sionismo cristão como protetor do judeu. Ele também foi usado em várias ocasiões pelos teóricos do “trumpismo” na América do Norte e seus epígonos “soberanistas” na Europa, que o transformaram em uma verdadeira teologia político-apocalíptica.
Essa “contrateologia”, especificamente, tem sua referência teórica em um pequeno panfleto de 1944, escrito pelo “teólogo reformado” Reinhold Niebuhr, intitulado Os filhos da luz e os filhos das trevas. O panfleto merece um novo parêntese, pois nele é expressa a ideia de um verdadeiro choque existencial entre os Estados Unidos e a Europa, uma ideia que nem sequer é muito original. Já durante o século XIX, de fato, teses conspiratórias foram defendidas nos Estados Unidos, segundo as quais os Impérios Europeus, em conluio com o Papa e os jesuítas, estavam tentando destruir o governo democrático em Washington. Entretanto, no centro do panfleto de Niebuhr estava a “civilização democrática moderna”, que encontrou sua expressão perfeita nos EUA. Essa, com seu “credo liberal”, era, em sua opinião, uma expressão dos “filhos da luz”, e seu único pecado seria uma abordagem sentimental ingênua das relações internacionais. A “civilização democrática” é contrastada com aquela proposta pelos “filhos das trevas” dedicados ao cinismo moral (uma característica que, de acordo com Niebuhr, distinguia tanto Benito Mussolini, ligado a Mazzini por uma linha direta, quanto Adolf Hitler, ou bolchevismo); seu antidemocratismo seria influenciado em nível político por Hobbes e em nível religioso por Lutero (sic!). Eles, malignos, mas altamente inteligentes, não conhecem nenhuma lei ou direito além da mera força. O inimigo dos “filhos da luz”, portanto, só pode ser a “fúria demoníaca” do nazismo e do fascismo (hoje, talvez, do islamismo em suas expressões que não são instrumentais para os interesses geopolíticos de Washington), que colocam as ferramentas da tecnologia moderna a serviço de uma ideologia antimoderna que coloca a comunidade acima do indivíduo[12].
Agora, as afirmações de Niebuhr podem ser facilmente refutadas em vários níveis. Em primeiro lugar, o teólogo reformado parece ser um mal entendedor de Hobbes, cuja “única falha”, na melhor das hipóteses, seria nunca disfarçar o poder, seu peso e sua posição central em todo o comportamento humano, e nunca exaltá-lo. Em segundo lugar, ele parece ignorar os múltiplos crimes do colonialismo liberal e o próprio fato de que a chamada “Doutrina Monroe”, longe de ser o produto de uma geopolítica isolacionista, foi simplesmente a primeira expressão do imperialismo norte-americano. Além disso, parece ignorar o fato de que a ausência de “direito”, parafraseando Carl Schmitt, caracterizou principalmente as ações norte-americanas no continente europeu. Ao demonizar o inimigo (merecedor de aniquilação), os Estados Unidos, de fato, trouxeram a “lei da selva” de volta à Europa. Superando o tradicional ius publicum europaeum, que era a base das relações entre as monarquias cristãs do continente, os Estados Unidos impuseram uma dominação sobre o continente que hoje, com a única exclusão da Rússia, tornou-se total e abrangente.
Isso permite a análise de outra declaração de propaganda sionista: a do presidente israelense Isaac Herzog, que argumentou que Israel estava defendendo a “civilização ocidental” em sua totalidade[13]. Novamente, esse é um argumento um tanto “datado”, pois já foi usado por Theodor Herzl, com um ímpeto puramente “orientalista” de “fardo do homem branco”, no manifesto sionista Der Judenstaat. Ali, de fato, em referência à colonização da Palestina, lê-se: “Para a Europa, que terá de garantir nossa existência, representaríamos ali uma muralha contra a Ásia, cobriríamos o cargo de um posto avançado de civilização contra a barbárie”[14].
De fato, a declaração de Herzog não parece ser desprovida de fundamento. O ponto principal é entender o que realmente significa, nesse caso, “civilização” e “valores” ocidentais. Nesse sentido, os estudos do historiador e sociólogo francês Maxime Rodinson e do sociólogo israelense Baruch Kimmerling, que traçaram paralelos entre o modelo colonial americano e o modelo sionista, são interessantes. Em especial, eles destacaram como o sionista deixou de apoiar (pelo menos inicialmente) um projeto colonial baseado na economia de plantação, explorando mão de obra segregada e considerada inferior (nos moldes do que foi feito no sul dos Estados Unidos), para implementar um modelo muito mais semelhante ao da Austrália, África do Sul e norte dos Estados Unidos, onde a população indígena foi deslocada e/ou exterminada.
Se essa é a “civilização ocidental”, fica claro que os supostos “valores” que ela defende nada mais são do que “desvalores”: uma mera maquinação que hoje, em nome do multiculturalismo, quer matar toda forma cultural específica. E a própria “civilização ocidental” (pelo menos da forma como Herzog a entende, ou da forma como é entendida nos centros de poder do Ocidente) aparece como uma “fabricação ideológica”: o produto de ideologias pré-embaladas exportadas pelo próprio dominador geopolítico do Ocidente para os territórios que ele controla. A Europa, em particular, não é o Ocidente, mas um apêndice periférico culturalmente colonizado e hoje extremamente militarizado dele (especialmente em sua zona leste) como uma “linha de falha”: um ponto de ruptura com outro mundo. Novamente, o mito tecnomercantil sobre o qual se baseia a atual União Europeia (o paradigma liberal-capitalista e mercantilista imposto aos estudos políticos com a consequente ocultação de tudo o que parece não ser “politicamente correto”) é, em si, um “antimito”: um mito negativo, desprovido de ethos arcaico, produto de uma cultura política (a dos Estados Unidos) que, desde suas origens, parafraseando mais uma vez Carl Schmitt, é antieuropeia.
Portanto, Israel não defende apenas a suposta “civilização ocidental” assim entendida, mas também defende a capacidade do dominador do Ocidente geopolítico de impor sua vontade nessa parte do mundo. A entidade sionista é um dos motivos que a mantém nessa parte do mundo. E enquanto a própria entidade sionista permanecer nesses termos na Palestina, não poderá haver soberania para a Europa.
Notas
[1] C. von Clausewitz, Pensieri sulla guerra, Oaks Editrice, Sesto San Giovanni (MI) 2023, p. 3.
[2] Israel did not start or want this war, but it will win this war: Benjamin Netanyahu, The Economic Times, www.youtube.com.
[3] Ver A. Marzano, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl a oggi, Carocci Editore, Roma 2017, p. 94.
[4]Pensieri sulla guerra, ivi cit., p. 11.
[5] A fonte é o Palestinian Center for Human Rights. O site www.pchrgaza.org foi apagado após o início da nova fase do conflito.
[6] Ver Cisgiordania: il 2023 è l’anno più letale per i bambini palestinesi. Uccisi almeno 38 minori, più di uno a settimana, 18 settembre 2023, www.savethechildren.it.
[7] Ver Army is spending half a billion to train soldiers to fight underground, 2 giugno 2018, www.military.com.
[8]Pensieri sulla guerra, ivi cit., p. 4.
[9]The Israeli historian who blames Rabin for his own murder and praises Hitler is making a come back, 9 novembre 2018, www.haaretz.com.
[10] Ver D. Perra, Sionismo politico e sionismo religioso, “Eurasia. Rivista di studi geopolitici” vol. LXXIII, n. 1/2024.
[11]Premier Netanyahu continues to use scriptures to defend Israeli war on Gaza, 3 novembre 2023, www.aa.com.tr.
[12] Ver R. Niebuhr, The children of light and the children of darkness, Charles Scribners’s Son (1944).
[13]Israeli president: war against Hamas intend to save the values of western civilization, www.youtube.com.
[14]T. Herzl, Lo Stato ebraico, Il Nuovo Melangolo, Genova 1989, p. 60.
Fonte: Eurasia Rivista