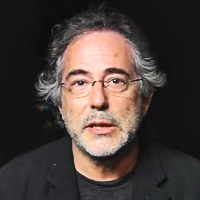Quando nasce o projeto de hegemonia global dos EUA? Nasce durante a Segunda Guerra Mundial, dentro do planejamento do futuro, como uma extensão do Destino Manifesto, a ideologia messiânica globalista segundo a qual os EUA tem a missão de liderar o mundo rumo à “liberdade”.

À medida que o Império Excepcional se prepara para enfrentar um novo ciclo destrutivo – e autodestrutivo – com conseqüências terríveis e imprevistas que irão reverberar pelo mundo, agora mais do que nunca é absolutamente essencial olhar de novo para as raízes imperiais.
A tarefa é plenamente cumprida por Tomorrow, the World: The Birth of U.S. Global Supremacy, por Stephen Wertheim, Diretor Adjunto de Pesquisa e Política do Instituto Quincy para Estadismo Responsável e pesquisador do Instituto Saltzman de Estudos sobre Guerra e Paz da Universidade de Columbia.
Aqui, em minuciosos detalhes, podemos descobrir quando, por que e especialmente quem moldou os contornos do “internacionalismo” americano em uma sala cheia de espelhos sempre disfarçando o objetivo real final: Império.
O livro de Wertheim foi soberbamente resenhado pelo Prof. Paul Kennedy. Aqui nos concentraremos nas reviravoltas cruciais da trama que aconteceram ao longo de 1940. A tese principal de Wertheim é que o outono da França em 1940 – e não Pearl Harbor – foi o evento catalisador que levou ao projeto completo da Hegemonia Imperial.
Este não é um livro sobre o complexo industrial-militar dos EUA ou sobre o funcionamento interno do capitalismo americano e do capitalismo financeiro. Ele é extremamente útil, pois estabelece o preâmbulo da era da Guerra Fria. Mas, acima de tudo, é uma história intelectual envolvente, revelando como a política externa americana foi fabricada pelos verdadeiros atores de carne e osso que contam: os planejadores econômicos e políticos reunidos pelo Conselho de Relações Exteriores (CFR), o núcleo conceitual da matriz imperial.
Eis o Nacionalismo Excepcionalista
Se apenas uma frase deve capturar o impulso missionário americano, esta é a frase: “Os Estados Unidos nasceram de um nacionalismo excepcionalista, imaginando-se providencialmente escolhidos para ocupar a vanguarda da história mundial”. Wertheim acertou em cheio, bebendo de uma riqueza de fontes sobre o excepcionalismo, especialmente o Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of the Right, de Anders Stephanson.
A ação começa no início de 1940, quando o Departamento de Estado formou um pequeno comitê consultivo em colaboração com o CFR, constituído como um proto-estado de segurança nacional de facto.
O projeto de planejamento pós-guerra do CFR ficou conhecido conhecido como Estudos de Guerra e Paz, financiado pela Fundação Rockefeller e ostentando uma seção transversal da elite americana, dividida em quatro grupos.
Os mais importantes eram o Grupo Econômico e Financeiro, liderado pelo “Keynes americano”, o economista de Harvard Alvin Hansen, e o Grupo Político, liderado pelo empresário Whitney Shepardson. Os planejadores do CFR foram inevitavelmente transpostos para o núcleo do comitê oficial de planejamento do pós-guerra criado depois de Pearl Harbor.
Um ponto crucial: o Grupo de Armamento era liderado por ninguém menos que Allen Dulles, então apenas um advogado corporativo, anos antes de se tornar o nefasto e onisciente mestre da CIA, totalmente desconstruído por David Talbot, em The Devil’s Chessboard.
Wertheim detalha as fascinantes e evolutivas escaramuças intelectuais ao longo dos primeiros oito meses da Segunda Guerra Mundial, quando o consenso predominante entre os planejadores era o de se concentrar apenas no Hemisfério Ocidental, e não se entregar às “aventuras de equilíbrio de poder” no exterior. No sentido de, “deixem os europeus lutarem; enquanto isso, nós lucramos”.
A queda da França em maio-junho de 1940 – o mais poderoso exército do mundo destruído em cinco semanas – foi a mudança do jogo, muito mais do que Pearl Harbor 18 meses mais tarde. Foi assim que os planejadores interpretaram: se a Grã-Bretanha fosse o próximo dominó a cair, o totalitarismo controlaria a Eurásia.
Wertheim foca na definição de “ameaça” para os planejadores: A dominação do Eixo impediria os Estados Unidos de “conduzir a história mundial. Tal ameaça se mostrava inaceitável para as elites americanas”. Foi isso que levou a uma definição ampliada de segurança nacional: os EUA não podiam se dar ao luxo de estar simplesmente “isolados” dentro do Hemisfério Ocidental. O caminho à frente era inevitável: moldar a ordem mundial como a suprema potência militar.
Assim, foi a perspectiva de uma ordem mundial moldada pelos nazistas – e não a segurança dos EUA – que abalou as elites da política externa no verão de 1940 para construir as bases intelectuais da hegemonia global dos EUA.
Claro que havia um componente “ideal sublime”: os EUA não seriam capazes de cumprir sua missão dada por Deus de conduzir o mundo em direção a um futuro melhor. Mas havia também uma questão prática muito mais urgente: esta ordem mundial poderia ser fechada ao comércio liberal dos EUA.
Mesmo quando as marés da guerra mudaram depois, o argumento intervencionista acabou prevalecendo: afinal, toda a Eurásia poderia (itálico no livro), eventualmente, cair sob o totalitarismo.
É sempre uma questão de “ordem mundial”
Inicialmente, a queda da França forçou os planejadores de Roosevelt a se concentrarem em uma área mínima hegemônica. Assim, no meio do verão de 1940, os grupos do CFR, mais os militares, surgiram com a chamada “esfera dos quartos”: do Canadá até o norte da América do Sul.
Eles ainda assumiam que o Eixo dominaria a Europa e partes do Oriente Médio e do Norte da África. Como observa Wertheim, “os intervencionistas americanos muitas vezes retratavam o ditador alemão como um mestre do estadismo, presciente, inteligente e ousado”.
Então, a pedido do Departamento de Estado, o crucial Grupo Econômico e Financeiro do CFR trabalhou febrilmente de agosto a outubro para projetar o próximo passo: integrar o Hemisfério Ocidental com a Bacia do Pacífico.
Esse era um foco eurocêntrico totalmente míope (a propósito, a Ásia mal aparece na narrativa de Wertheim). Os planejadores assumiram que o Japão – mesmo rivalizando com os EUA, e três anos na invasão da China continental – poderia de alguma forma ser incorporado, ou subornado em uma área não nazista.
Então eles finalmente tiraram a sorte grande: unir o Hemisfério Ocidental, o Império Britânico e a Bacia do Pacífico em uma chamada “grande área residual”: ou seja, todo o mundo não dominado pelos nazistas, excetuando a URSS.
Eles descobriram que se a Alemanha nazista dominasse a Europa, os EUA teriam que dominar em todos os outros lugares (itálico meu). Esta era a conclusão lógica baseada nas suposições iniciais dos planejadores.
Foi quando nasceu a política externa americana para os próximos 80 anos: os Estados Unidos tinham que exercer “poder inquestionável”, como declarado na “recomendação” dos planejadores do CFR ao Departamento de Estado, entregue em 19 de outubro em um memorando intitulado “Necessidades da Futura Política Externa dos Estados Unidos”.
Esta “Grande Área” foi a criação do Grupo Econômico e Financeiro do CFR. O Grupo Político não ficou impressionado. A Grande Área implicava um acordo de paz pós-guerra que era na verdade uma Guerra Fria entre a Alemanha e a Anglo-América. Isso não era bom o bastante.
Mas como vender o domínio total à opinião pública americana sem que isso soasse “imperialista”, semelhante ao que o Eixo estava fazendo na Europa e na Ásia? Eis um enorme problema de relações públicas.
No final, as elites americanas sempre voltavam à mesma pedra fundamental do excepcionalismo americano: se houvesse alguma supremacia do Eixo na Europa e na Ásia, o destino manifesto dos EUA de definir o caminho adiante para a história mundial seria negado.
Como Walter Lippmann sucintamente – e de forma memorável – o disse: “Nossa é a nova ordem. Foi para fundar esta ordem e para desenvolvê-la que nossos antepassados vieram aqui. Nesta ordem, nós existimos. Somente nesta ordem podemos viver”.
Isso estabeleceria o padrão para os 80 anos seguintes. Roosevelt, poucos dias após ter sido eleito para um terceiro mandato, declarou que eram os Estados Unidos que “verdadeira e fundamentalmente… era uma nova ordem”.
É arrepiante lembrar que há 30 anos, mesmo antes de desencadear o primeiro Choque e Pavor sobre o Iraque, Papai Bush o definiu como o cadinho de uma “nova ordem mundial” (aliás, o discurso foi proferido exatamente 11 anos antes do 11 de setembro).
Henry Kissinger vem comercializando a “ordem mundial” há seis décadas. O mantra número um da política externa americana é a “ordem internacional baseada em regras”: regras, é claro, estabelecidas unilateralmente pelo Hegemon no final da Segunda Guerra Mundial.
Século Americano Redux
O que saiu da orgia de planejamento político de 1940 foi encapsulado por um mantra sucinto apresentado no lendário ensaio de 17 de fevereiro de 1941 na revista Life ao publicar o magnata Henry Luce: “Século Americano”.
Apenas seis meses antes, os planejadores estavam na melhor das hipóteses satisfeitos com um papel hemisférico em um futuro mundial liderado pelo Eixo. Agora, eles se tornavam vencedores: “oportunidade completa de liderança”, nas palavras de Luce. No início de 1941, meses antes de Pearl Harbor, o século americano se tornou mainstream – e nunca mais saiu de cena.
Isso selou a primazia da política do poder. Se os interesses americanos fossem globais, assim deveria ser o poder político e militar americano.
Luce até usou a terminologia do Terceiro Reich: “As tiranias podem exigir uma grande quantidade de espaço vital. Mas a Liberdade exige e exigirá um espaço vital muito maior do que a Tirania”. Ao contrário da de Hitler, prevaleceu a ambição ilimitada das elites americanas.
Até agora. Parece e sente-se como se o império estivesse entrando em um momento à lá James Cagney, “Consegui, mãe! Topo do Mundo!” – apodrecendo por dentro, o 11 de setembro se fundindo no 6 de Janeiro em uma guerra contra o “terrorismo doméstico” – enquanto ainda alimenta sonhos tóxicos de impor uma “liderança” global incontestável.
Fonte: Asia Times